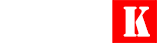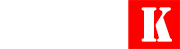Luanda - Á esta pergunta homens e mulheres inqueridos responderam sem hesitar que sim. Entretanto tenho a certeza absoluta que para alguns não passou de “jogar palavras ao vento”.
Fonte: Club-k.net
 Além de se traduzir numa questão directa, a pergunta foi igualmente o tema da campanha que duas colegas e eu organizamos, na feira do artesanato, no âmbito dos 16 dias de activismo pelo fim da violência contra a mulher, que são anualmente celebrados de 25 de Novembro à 10 de Dezembro, com o objectivo de passar mensagens contra todas as formas de violência contra a mulher.
Além de se traduzir numa questão directa, a pergunta foi igualmente o tema da campanha que duas colegas e eu organizamos, na feira do artesanato, no âmbito dos 16 dias de activismo pelo fim da violência contra a mulher, que são anualmente celebrados de 25 de Novembro à 10 de Dezembro, com o objectivo de passar mensagens contra todas as formas de violência contra a mulher.
A actividade teve como objectivo solidariza-se com todas as mulheres grávidas vítimas de violência, especialmente violência que sofrem nas instituições públicas - também conhecida por violência institucional de género; protestar tais práticas; assinalar que a maternidade é um estágio da vida do casal ( dimensão privada) e da vida social (dimensão pública); advogar por melhores serviços médicos públicos; e consciencializar as pessoas sobre as responsabilidades individual e pública na questão.
Assim, o último sábado de Novembro, inicialmente calmo, e mais tarde ensolarado e agitado, passamo-lo na ilha de Luanda a distribuir t-shirts, chapéus, flayers e auto-colantes e a falar sobre a importância e a fundamentalidade da saúde da mulher durante a gravidez. A nossa tenda foi bastante concorrida, quando muito pela apetência quase voraz, de alguns, em obter camisolas de graça, sem se quer perceber do que se tratava. Neste aspecto, valeu a intervenção sapiente, antecipada e experimentada da equipa de coordenação que permitiu controlar tais ânimos a um nível menos perceptível. E assim a mensagem passava. Entre uma camisola e outra, entre um casal e um grupo de amigos, lá estávamos nós a dialogar, explicar e até aprender.
A segurança e a responsabilidade nos serviços públicos de saúde não é um assunto novo. Aliás, de certa forma cada um de nós poderá ser perito em causa própria, fruto das experiências trágicas que possivelmente terá vivido ou as quais terá sobrevivido. Entretanto, segurança sanitária é um assunto do qual não nos podemos cansar, nem nos deixar vencer pelo tempo, pela recorrência ou pela indiferença. Ela é tão importante que a vida de milhares de pessoas é posta em causa quando não exista ou exista de modo deficiente. Cada um pode ter ideia do que entende ou sente de segurança, estar seguro tem haver muitas vezes com elementos físicos, apupáveis e matérias outras vezes com elementos que não são visíveis, tem a ver com um conjunto de condições que devem existir ou ser promovidas para que as pessoas possam tranquilamente sentir-se livres de perigos. Por condições referimos hospitais e outros meios, mas não basta que existam apenas é necessários que existam de modo pleno, suficiente, eficaz, satisfatório e para todos. Falamos de quantidade e de qualidade. Para uma maternidade, por exemplo, devem existir: médicos, enfermeiros, analistas, técnicos administrativos, medicamentos, aparelhos de exames, camas, lençóis e outros materiais gastáveis etc., entre o pessoal médico, há que buscar pelos especialistas: obstetras, genecologistas, neonatologiastas, anestesistas, enfermeiras, parteiras etc., a seguir olhamos para a qualidade dos serviços como a informação é passada, como o pessoal médico aborda a paciente, como é atendida, como é tratada, como é acompanhada etc., como é a formação dos médicos, enfermeiros e outros técnicos, são questões interligadas.
A verdade é que não podemos ainda dizer que todas das maternidades em Angola funcionam em pleno gozo e uso de tais condições. Uma falha grave no nosso sistema de saúde é a falta de médicos neonatologiastas- especialistas que tratam de recém-nascidos (sei que não existem no centro materno-infantil do Huambo). Eles são, na explicação de outros médicos, os primeiros profissionais a analisar o bebé assim que sai do ventre materno, para constatar a sua normalidade ou anormalidade clínica. Atestam o bem-estar físico ou não da criança logo após o parto, um papel que vem sendo exercido por clínicos gerais ou por médicos obstetras, para não falar das enfermeiras que nalguns casos são as que de facto fazem a maior parte do trabalho, inclusive o clínico ( como diagnosticar e passar receitas etc.).
Ficou muito claro para mim que as pessoas não percebem as deficiências de um serviço ou a falta dele como violência - a chamada violência institucional ou estrutural. E, no caso das maternidades toma um carácter discriminatório devido a natureza desses serviços e ao público ao qual se destina, daí denominarmos “violência institucional de género”.
O conceito de violência é muito mais amplo que a simples agressão física ou verbal, o seu alcance é mais profundo que o impacto visível das marcas no corpo, no bom nome, na boa fama, há uma violência que é invisível q mesmo que não cause dor física directamente, causa dano físico; institucional porque é uma violência que se vive em primeiro lugar nas instituições, em segundo porque é de carácter estrutural, ou seja afecta um conjunto interligado de serviços e agentes públicos, que no nosso caso tomou os contornos de uma espécie de “cultura de tratamento público”. Uma cultura marcada pela falta de cordialidade, pela rispidez, pela demora, pela falta, e até mesmo pela ausência. Nalguns casos de tão recorrentes que são as makas, soam-nos
já à indiferença; de género porque estamos analisar serviços que atendem preferencialmente um dos sexos do género humano: a mulher.
Para além da violência das instituições públicas, existe a questão da violência nas instituições. Seja em forma física( ex.: o caso das prisões), como em forma verbal, bater ou dizer palavrões a um cidadão que recorre ao serviço público é no mínimo conduta delituosa, e o agente deve ser responsabilizado.
Nas maternidades, é um pouco da estória “todos falam mas ninguém viu”, apenas ouviram dizer. Assim, sem qualquer denúncia, motivada apenas pelos excessivos rumores públicos, parti para a Maternidade Augusto Ngangula, lá falei com uma médica, uma parteira e uma psicóloga. Foi-me explicado que a instituição tem ouvido falar, mas que nunca conheceu um caso sequer, disseram- me também que em caso de alguama mulher ser fisicamente agredida, a mesma deve apresentar uma reclamação ao gabinete do utente, ou fazer uma queixa ao supervisor de turno que deverá dar o devido tratamento disciplinar a essa informação.
A conversa mais interessante foi com a parteira, de quem soube que presta essa actividade há mais de 15 anos e que nunca, nesses anos todos bateu numa paciente. Perguntei-lhe insistindo qual era então o motivo de tanto “murmúrio” público, disse que é preciso também compreender o grau de educação das mulheres e as famílias que recorrem ao Ngangula, que essas pessoas muitas vezes cometem erros de “compreensão”. Disse também que, na condição de mulher não lhe cabia na cabeça maltratar outra mulher em condições tão especiais como é estar grávida ou em trabalho de parto. O que pode confundir alguns – prosseguiu - é o facto de as vezes, já na marquesa com as pernas abertas, certas mulheres pela intensidade da dor terem a tendência de fechar as pernas, e nessas circunstâncias – explicou - é prática comum e recorrente das
enfermeiras ou das parteiras darem algumas palmadinhas leves na parte interna das coxas para que a mulher permaneça com as pernas abertas. O objectivo - concluiu a parteira - é proteger a vida do bebé.
Há crispação, uma sensação de desconfiança e um nível de insegurança nas nossas maternidades, gerada pela falta de algumas condições, em alguns casos, ou de condições mínimas em muitos casos ( especialmente nas regiões do interior). Esse clima é vivido e sentido por mulheres principalmente, na condição de pacientes e de profissionais de saúde, situações essas que em muitas circunstâncias abeiram ao desespero, desânimo, descrença e até desilusão. As mulheres que vivem na comuna da Kalenga, município da Kaala, por exemplo, têm a sua disposição um centro médico dirigido essencialmente por técnicos enfermeiros e com condições para assegurar apenas o básico. A mesma situação é partilhada pelas mulheres do Kipeio, no município do Ekunha, província do Huambo. Essas mulheres que fazem parte de um grupo de pessoas que anda a volta dos mais de 200 mil habitantes, naquela região, tem de se contentar com o Hospital municipal da Kaala, que reúne mais condições, ou ir directamente à maternidade central do Huambo, onde algumas condições são diferentes e melhores. As ambulâncias existem, mas em alguns casos não têm conseguido salvar dezenas de mulheres que ainda morrem devido a hemorragia, por realizarem os partos em casa- um comportamento que não tem apenas explicações culturais ou tradicionais, há o respaldo da falta de condições no sistema nacional de saúde.
Todas essas situações de falta, carência ou deficiência no sistema de saúde, gera muitas emoções e sensações, mas há um facto em particular de que nos convém falar, sedimentou a irresponsabilidade pública e política e por isso é importante
insistir na responsabilidade pessoal e pública que os cidadãos e os gestores administrativos e políticos do Estado têm, ou devem ter para com o sistema de saúde de atendimento à mulher, especialmente. Primeiro porque a mulher é maioria em Angola, segundo porque é muitas vezes mais afectadas por factores negativos de desenvolvimento: pobreza, analfabetismo, violência, discriminação, preconceito etc., e terceiro porque é a mulher que no fundo “gera” uma nova geração de cidadãos.
A responsabilidade de que falamos é não só de natureza cívica, é também de natureza jurídica e, embora não faça a seguir uma análise e exposição profunda sobre tal instituto, no âmbito do direito, é importante referir que é uma figura estudada profundamente no Direito Civil convenientemente puxada para o Direito Público, onde a natureza da gestão dos actos praticados pela administração pública podem encaminhá-la para a regulação civil, ou para a regulação pública, no entanto um assunto de contencioso administrativo.
Ora bem, na perspectiva cívica a responsabilidade é uma obrigação com diferentes dimensões: cuidar, atentar, exigir, participar e até responder, cabe a todos os cidadãos na gestão das suas vidas privadas e na gestão da res publica - a coisa pública; na perspectiva puramente jurídica, a responsabilidade não é indistintamente aplicada a todos, é antes, obrigação de sujeitos perfeitamente indicados na lei. Assim, quando falamos de responsabilidade pública em matéria de maternidade, referirmo-nos àquela que recai sobre as pessoas públicas, mais concretamente para o nosso assunto, às instituições de saúde do Estado, sendo que por elas respondem os seus gestores, desde ministros, directores, chefes de departamento, médicos em serviço, enfermeiros na mesma condição até o pessoal de base que trabalhe na condição de funcionário público.
Ter direito à maternidade segura e responsável é exigir do Estado o cumprimento do direito à saúde, principalmente. E a realização desse direito não se dá apenas pelo simples facto de existirem hospitais-maternidades, dá-se também através de medidas preventivas, educativas, investigativas, formativas e finalmente curativas. Passa por aspectos culturais, sociais, políticos e económicos. O dever geral de prestar que recai ao Estado, no âmbito dos direitos humanos sociais, pode na perspectiva de alguns, ter um carácter precário no quesito responsabilização, mas é uma obrigação jurídica e de carácter jus-fundamental constitucional, assim sendo, nessa condição, o Estado tem de prover todos os meios técnicos e financeiros para garantir melhores condições de saúde à mulher grávida em Angola que já sofre com as disparidades de oportunidade, com a violência doméstica, com a pobreza e com a indiferença.
Para as mulheres dar á luz a uma nova ger(n)ação não devia ser um parto tão doloroso.
E agora, você apoia esta ideia?