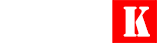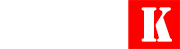Luanda - No seu livro Lûmbu: a Democracia no Antigo Kôngo, o historiador Patrício Batsîkama expõe a tese segundo a qual o antigo Reino do Kôngo era democrático, ou seja, era um estado cujo sistema político era a democracia. Esta tese implica que naquele reino – e citamos Abraham Lincoln –, “o governo era do povo, para o povo e pelo povo”.
Fonte: Club-k.net
 Ao ler o título do livro em apreço, o leitor é arrebatado pela ideia interessante de que há centenas de anos, antes da chegada dos europeus, havia um reino politicamente muito à frente do seu tempo, um reino democrático, cujo poder emanava e assentava sobre o povo – este é o Reino do Kôngo.
Ao ler o título do livro em apreço, o leitor é arrebatado pela ideia interessante de que há centenas de anos, antes da chegada dos europeus, havia um reino politicamente muito à frente do seu tempo, um reino democrático, cujo poder emanava e assentava sobre o povo – este é o Reino do Kôngo.
Nas mais de 70 páginas da sua obra, o autor apresenta argumentos em como o Reino do Kôngo era um estado democrático. Depois de descrever a Fundação do Kôngo (capítulo 1), e do Nfumu – instituição da autoridade (capítulo 2), Patrício Batsîkama começa a abordar a substância da sua tese no capítulo 3, subordinado ao tema Lûmbu – a instituição da democracia; à seguir, no capítulo 4, descreve a organização social e a divisão de poderes no Reino do Kôngo. No capítulo 5, o autor faz uma exposição e uma análise das diversas dimensões de Mbanz’a Kôngo, a capital do antigo reino, o “espaço da União”, e finaliza a abordagem da substância da sua tese com o capítulo 6, no qual faz a conclusão.
Entretanto, a tese sobre a democracia no Reino do Kôngo não encontra apoio no próprio livro. O livro é uma ferramenta útil em termos de História, Antropologia e Linguística, mas não apresenta e muito menos esgrime os elementos probatórios e de sustentação e consistência à tese de que havia democracia no antigo Kôngo.
Apresentamos uma série de factos e linhas de análise que suportam nossa posição de que a tese do autor é falsa e, assim sendo, o Reino do Kôngo não era um estado democrático.
1. Metodologia: na página 9, o autor descreve a sua metodologia como consistindo em linguística comparada, paremiologia e crítica histórica.
A crítica histórica mencionada na página referida como elemento matricial de metodologia levanta questões inevitáveis: a) Que outros elementos importantes devem constituir a crítica histórica necessária à construção de tal tese? b) Que referencial de comparação o autor utiliza para fundamentar a sua tese?
Ao longo de toda a obra não há efectivamente um referencial de comparação que sirva à uma crítica histórica norteada por um exemplo paradigmático. Que reinos mais ou menos coetâneos ao do Kôngo o autor usou como termo de comparação nas vertentes de sistema e modelo político? Esta e outras questões são cruciais na aferição filosófica, académica e científica da tese segundo a qual havia democracia no Reino do Kôngo
2. Desiderativismo argumentativo: no esforço de apresentar substância e sustentação à sua tese sobre democracia no antigo Reino do Kôngo, o autor regese, entre outros elementos, de um desiderativismo argumentativo, que ironicamente acaba por não provar nada.
Notase desiderativismo argumentativo em diversas partes da obra, designadamente: a linguagem tendenciosa e distorcionista, a semântica Kikongo e o uso forçado de analogia.
Linguagem tendenciosa e distorcionista: logo na introdução (página 9): o autor afirma o seguinte:
Kôngo era, de facto, poderoso e chamou à atenção dos primeiros exploradores. Já Delafosse afirmava que aqui existia a democracia. Alguns estudiosos acham que a forma da eleição não implicaria alguma democracia, talvez porque – assim sustentam – faltam outros componentes da democracia.
Ora, o que chamou à atenção dos “primeiros exploradores”? Segundo o próprio texto, foi o poder do Reino do Kôngo, e não o sistema de organização e gestão do poder político! Poder político (ou qualquer outro) não é sinónimo de democracia! Na frase seguinte, o autor menciona Delafosse, segundo o qual ‘existia democracia no Reino do Kôngo’. Mas, será que a opinião de Delafosse é fundamento epistemológico suficiente para crermos e afirmarmos que havia democracia no Reino do Kôngo? Ainda que Delafosse fosse especialista em história política, filosofia política ou ciência política, sua opinião não seria mais do que isso mesmo: opinião! O autor afirma à seguir, e sublinhamos, que “alguns estudiosos acham que a forma da eleição não implicaria alguma democracia, talvez porque – assim sustentam – faltam outros componentes da democracia.” Notese que o autor, por um lado, reduz a posição de tais estudiosos à categoria do achismo, levando o leitor a concluir que são os autores que têm problema de enxergar o que é apresentado pelo autor como um facto histórico. Por outro lado, os estudiosos que não subscrevem à tese de democracia no antigo Kôngo são reduzidos à pequenez estatística de alguns, passando a impressão de que são mesmo poucos os estudiosos que não subscrevem à tese, havendo já uma maioria que subscreve à tese! E notese que, segundo o autor, os estudiosos não subscrevem à tese de democracia no Kôngo, “talvez porque – assim sustentam – [...]”. Ou seja, por um lado, o autor demonstra não ter certeza da razão pela qual os estudiosos discordam, mas, estranhamente, acrescenta que eles, os estudiosos, sustentam que é a forma de eleição que é o elemento não democrático. E aqui reside outro problema: segundo o autor, quer dizer então que a forma de eleição é o único problema, o único obstáculo à compleição do quadro de democracia no antigo Kôngo, sendo que tudo mais era efectivamente democrático! Tratase claramente de linguagem tendenciosa.
Passar a impressão de que o problema da democracia residia apenas na forma de eleição, além configurar discurso tendencioso, é claramente um mecanismo de distorção da realidade. Na página 10 (ainda na introdução), o autor afirma o seguinte: “pretendemos apenas apresentar as instituições que, pela sua funcionalidade, permitiam que o sistema político no velho Kôngo seja na verdade a democracia”. Impõese aqui uma correcção: de acordo com a gramática da língua portuguesa, a forma correcta da frase é: “pretendemos apenas apresentar as instituições que, pela sua funcionalidade, permitem concluir que o sistema político no velho Kôngo era na verdade a democracia”. Assim fica efectivamente fácil compreender o pensamento do autor na frase, segundo o qual a forma de funcionamento das instituições do Reino do Kôngo era democrática. Se é mesmo assim, por que então o autor não inclui também na sua pretensão a forma de eleição dos titulares de tais instituições supostamente democráticas?
No capítulo 3 do livro (Lûmbu: instituição da democracia, página 33), o autor afirma categoricamente: “Lûmbu era a instituição máxima do país: (i) definia as tipificações do poder: a) a hierarquia militar, b) a democracia social; (ii) instituía os órgãos da sistematização do poder; (iii) e simbolizava a coesão de uma vasta população repartida em várias terras distantes umas das outras.”
Ora, apesar de afirmar a democracia social como realidade no antigo Kôngo, o autor não apresenta nenhuma prova de tal democracia social. Do princípio ao fim do capítulo, nada é apresentado como evidência de democracia social no Reino do Kôngo. As tipificações do poder, a hierarquia militar e a questão simbólica são apresentadas e descritas, mas tais elementos institucionais, em si mesmos e como elementos de sistema, nada têm de democrático. Lûmbu era efectivamente um arranjo de organização e gestão do poder político no antigo Kôngo, cujo sistema político era monárquico. Notese que havia um rei. Por outro lado, os candidatos a rei eram/deviam ser todos de linhagem real, tal como se infere em História Geral da África, Vol. IV (1979 [2010], p. 650), onde lemos que
Os governadores das províncias eram muitas vezes parentes imediatos do rei, que confiava o Nsundi e o Mbangu a seus filhos favoritos. Assim, estes dispunham de sólida base para disputar a sucessão, quando da morte do pai. Os governadores nomeavam os senhores menores, que, por sua vez, davam ordens aos nkuluntu, chefes hereditários das aldeias.
Semântica Kikongo: tanto no capítulo 3 como no 4 (Organização social e divisão social de poderes) o autor, por via da descrição organizacional e da gestão do poder na dimensão social, faz uso da semântica Kikongo, que escalpelizada de forma exaustiva e competente e averiguadas as fontes, à luz da linguística comparada, da filosofia política e da teoria da democracia, permitemnos efectivamente inferir que os capítulos 3 e 4 não passam de uma interessante abordagem etnolinguística e históricopolítica. Não há provas de que havia democracia no antigo Kôngo.
Uso forçado de analogia: no capítulo 4, o autor introduz termos como “constituição”, “poder executivo”, “poder legislativo”, “poder judicial” e “comissão eleitoral”. Apesar disso, o autor não apresenta evidências da existência de uma constituição, suas características, seus princípios, seus fundamentos e seus propósitos. O autor não apresenta provas e muitos menos explica em que medida é que havia efectivamente um poder executivo, um poder legislativo e um poder judicial no Reino do Kôngo, organizados em matriz democrática. Os termos de comparação para aferição do regime político do antigo Kôngo e sua proximidade ou equivalência estrutural com a democracia permitemnos inferir que o sistema político do no Reino do Kôngo era obviamente monárquico. O próprio uso da palavra democracia é forçado. Aliás, esta palavra nem sequer existe como tal na língua Kikongo!
Quanto à questão da comissão eleitoral, o que significa, por exemplo, que o rei era eleito, atentemos novamente à obra História Geral da África, Vol. IV (1979 [2010], p. 651) que diz:
Teoricamente, o rei devia ser eleito e aconselhado por um colégio de eleitores, composto de nove ou doze membros. O senhor kabunga tinha direito de veto sobre suas deliberações, e o governador de Mbata, inelegível para a realeza, era seu membro nato (como depois também foi o governador de Soyo).
Provavelmente, os demais eleitores não pertenciam a família real. Na verdade, porem, o mais das vezes eles se limitavam a referendar o nome do filho do defunto que parecia dispor de maiores poderes, quando da morte do rei seu pai. Durante o reinado, esse conselho, que poderia incluir membros do corpo administrativo, tinha o direito de supervisionar o rei, especialmente nas questões referentes.
Lûmbu era o conselho superior do Reino do Kôngo, uma instituição cujas funções incluíam obviamente o apoio ou assessoria ao rei, que era a mais alta autoridade política, como é típico em regimes monárquicos, tal como lemos na obra que temos vindo a citar, página 650, que afirma:
O rei era assistido por um corpo administrativo central, cujos membros ele podia demitir. Na capital, esse órgão incluía o chefe do palácio, que tinha os encargos de vice‐rei, um juiz supremo, um colector de impostos com os seus tesoureiros, um chefe de polícia, um chefe dos mensageiros, e ainda outra alta personagem, conhecida como punzo, de cujas funções nada sabemos [...] Fora desse corpo ainda havia o senhor kabunga, que desempenhava as funções de sumosacerdote e cujo antepassado fora senhor de terra na área da capital, antes de Nimi Lukeni [o fundador do reino].
3. Ausência de elementos de democracia: ao contrário do que o autor tenta fazer crer mediante descrições desiderativas e argumentos algo circulares, a organização social e divisão de poderes no Reino do Kôngo não configuravam de forma alguma um quadro de democracia.
Organização social no Kôngo: no capítulo 4, onde o autor faz uma aturada abordagem descritiva da organização e divisão de poderes, fica evidente que havia certamente estrutura de governação que era um reflexo eloquente da estratificação social presente no antigo Kôngo. Segundo a obra História Geral da África, Vol. IV (1979 [2010], p. 652),
A estratificação social é nítida. Existiam três ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. A aristocracia formava uma casta, pois seus membros não podiam casar‐se com plebeus. No interior das duas ordens livres, os casamentos serviam de instrumentos de aliança entre as famílias; parece que existiam casamentos preferenciais. Na aristocracia, distinguiam‐se os kitomi, antigos senhores do chão (ou da terra), que eram, nas províncias, o equivalente do kabunga da capital; provavelmente eles formavam uma aristocracia vinculada aos demais senhores por casamentos preferenciais análogos aos que uniam a dinastia ao Mbata e ao kabunga.
Notase que a organização social no Kôngo era típica da sua época: classe aristocrática, classe plebeia, classe escrava e a evidente realidade dinástica. Nada nesta descrição passa a impressão de que havia democracia no antigo Kôngo.
Divisão de poderes no Kôngo: na página 49, o autor – com recurso a um diagrama, define Lûmbu como o “Conselho Supremo do País”, mas ao mesmo tempo ficase com a impressão, mediante análise deste diagrama que o rei não era a autoridade central no reino. Será assim? Vejamos o que diz a obra que temos vindo a citar, isto é, História Geral da África, Vol. IV (1979 [2010], p. 650): “o rei do Kôngo exercia grande autoridade, mas não um poder absoluto. Competia‐lhe a nomeação dos governadores, exceptuando o de Mbata, que era eleito pelo povo e os dignitários da família Nsuku, com a confirmação real. Na província de Soyo, a função de governador era hereditária.”
Havia eleições? Sim, em Mbata. Mas que tipo de eleições? Tais eleições eram um processo regular, sistemático e universal, abrangendo a totalidade do extenso território do Reino e das supostas instituições? NÃO! Lembremonos que na China e em Cuba, por exemplo, também ocorrem eleições, mas bem ao estilo comunista. Além disso, eleições não são o único elemento de democracia, cujo conceito deve aqui ser (re)abordado.
Segundo Torres (2008, p. 15), Democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, directamente ou através dos seus representantes livremente eleitos. Democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana; é a institucionalização da liberdade. A democracia baseiase nos princípios do governo da maioria associados aos direitos individuais e das minorias. Todas as democracias, embora respeitem a vontade da maioria, protegem escrupulosamente os direitos fundamentais dos indivíduos e das minorias. As democracias entendem que uma das suas principais funções é proteger direitos humanos fundamentais como a liberdade de expressão e de religião; o direito à protecção legal para todos; e a oportunidade de organizar e participar plenamente na vida política, econômica e cultural da sociedade. As democracias conduzem regularmente eleições livres e justas, abertas a todos os cidadãos. As eleições numa democracia não podem ser fachadas atrás das quais se escondem ditadores ou um partido único, mas verdadeiras competições pelo apoio do povo. A democracia sujeita os governos ao Estado de Direito e assegura que todos os cidadãos recebam a mesma proteção legal e que os seus direitos sejam protegidos pelo sistema judiciário. Os cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas liberdades.”
Só se pode perguntar: o quadro acima se verificava no Reino do Kôngo? A resposta é um retumbante NÃO.
Por outro lado, notase que, deveras, o rei era a autoridade política máxima, que tinha no Lûmbu uma estrutura de assessoria, logo o Lûmbu não podia ser uma espécie de governo democrático em que o rei era mera figura protocolar e decorativa.
4. Desiderativismo etnocentrista: a promoção da tese insustentável de que o antigo Reino do Kôngo era uma democracia, mais do que se supõe, é uma manifestação do etnocentrismo de que padecem muitos angolanos de origem bakongo, que insistem em lógicas e narrativas duma corrente de elevação dos bakongo à categoria de “etnia ímpar”, uma espécie de “gregos da África subsariana”.
Etnocentrismo: entre muitos angolanos bakongo reside um elevado etnocentrismo que não deixa de ser preocupante. A etnia bakongo é narrada como uma nação superior na sua filosofia, língua, cultura, história, religião, tradições e ética. Promovese a cosmovisão dos bakongo como uma espécie de universal absoluto de valores e princípios que funciona como fonte iluminadora de todo um mundo.
Angolanos bakongo instruídos constituem uma das franjas que mais padecem deste etnocentrismo, de tal sorte que muitos chegam ao extremo de ignorar ou mesmo justificar os aspectos negativos e perniciosos da sua etnia como aceitáveis. Tal irracionalidade certamente advém de uma visão de mundo assente na autoreferência. Um exemplo demonstrativo de tal irracionalidade reside na hilariante estória segundo a qual a rainha de Sabá, sim, aquela que visitou o rei Salomão, era mukongo!
Manifestações do etnocentrismo: o mito, a ficção, a exaltação da língua, da história e dos valores de uma etnia como elementos de supremacia são algumas das diversas formas de etnocentrismo. No caso dos angolanos bakongo que padecem deste problema, afirmar que havia democracia no Reino do Kôngo é demonstração de um orgulho étnico desmedido.
O Reino do Kôngo era uma monarquia. Não era uma democracia. Não há provas de que era um reino democrático. A metodologia questionável, o desiderativismo argumentativo (que se verifica numa linguagem tendenciosa e distorcionista, no uso algo impressionista da semântica Kikongo e num uso forçado de analogia), a ausência de elementos de democracia (verificadas na organização social e divisão de poderes no antigo Kôngo) e o desiderativismo etnocentrista conduzem à conclusão de que é falsa a tese segundo a qual havia democracia no Reino do Kôngo.