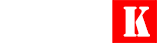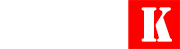Lisboa - Margarida Paredes, investigadora social portuguesa, foi guerrilheira do MPLA na luta pela independência de Angola. Quando chegou a Brazzaville, em 1974, o homem na recepção perguntou-lhe: “Quem é você?” O homem era José Eduardo dos Santos.
Fonte: Publico
 “Eu fui guerrilheira e pertenço à família do MPLA.” É assim que Margarida Paredes fala de si, hoje. Mais de 40 anos depois de ter chegado a Brazzaville, com uma mochila às costas e decidida a pegar numa arma para combater ao lado do MPLA na luta pela independência de Angola. Foi em 1974. Pouco depois entrava em Luanda, já tinha vendido o bilhete de regresso para poder sobreviver. Ficou em Angola até 1981. Desde então e até 2006, quando publicou o romance O Tibete de África, silenciou esse passado. “Só se consegue recomeçar uma vida nova se uma pessoa cortar. Não falava sobre esse tempo. Nos sítios onde trabalhei não dizia que tinha sido guerrilheira. Imagine dizer isso nos anos 80, quando ainda se estão a digerir os retornados! Havia coisas que eu não falava a ninguém.”
“Eu fui guerrilheira e pertenço à família do MPLA.” É assim que Margarida Paredes fala de si, hoje. Mais de 40 anos depois de ter chegado a Brazzaville, com uma mochila às costas e decidida a pegar numa arma para combater ao lado do MPLA na luta pela independência de Angola. Foi em 1974. Pouco depois entrava em Luanda, já tinha vendido o bilhete de regresso para poder sobreviver. Ficou em Angola até 1981. Desde então e até 2006, quando publicou o romance O Tibete de África, silenciou esse passado. “Só se consegue recomeçar uma vida nova se uma pessoa cortar. Não falava sobre esse tempo. Nos sítios onde trabalhei não dizia que tinha sido guerrilheira. Imagine dizer isso nos anos 80, quando ainda se estão a digerir os retornados! Havia coisas que eu não falava a ninguém.”
Nessa altura ouviu chamarem-lhe pela primeira vez traidora à pátria. “Coisas de ultranacionalistas”, comenta. No final de 2015, publicou Combater duas Vezes, Mulheres na Luta Armada em Angola, a sua tese de doutoramento em Antropologia. É o resultado de um regresso onde ouviu mais de cem mulheres que como ela pegaram em armas, fizeram guerra e guerrilha, foram operacionais, primeiro na guerra nacionalista e depois na guerra civil, pelo MPLA e UNITA. A leitura que faz agora desse período, enquanto cientista social, é mais dura e crítica em relação ao poder angolano e à História que foi sendo oficialmente construída do que a da mulher que combateu convicta de estar no lado certo do conflito. “Este livro pacificou-me”, diz.
Como muitas das mulheres que escutou, sentiu trauma. Quando chegou a Portugal, em 1981, atirava-se para o chão sempre que ouvia um foguete, pensando que era uma rajada de tiros. “Havia dois lados da guerra e eu estava do lugar certo. Os países africanos tinham direito à sua soberania. O facto de estar do lado certo da História, em termos de trauma é completamente diferente. Os soldados portugueses sempre tiveram consciência, no fundo, de que estavam do lado errado da História.”
A voz da cientista social e a da ex-combatente cruzam-se nesta conversa. O livro foi construído também a partir desse “diálogo introspectivo” com a sua história pessoal. “Os campos da Antropologia não são a-históricos, nem a-políticos”, escreve no prólogo. Este é um livro que nasceu a partir de um pressuposto claro: “Eu estava lá”.
Margarida Paredes vive em Salvador, no Brasil, onde é professora na Universidade Federal da Baía. “A identidade vai-se construindo. Hoje assumo que sou portuguesa. Uma portuguesa de entrelugares”, afirma. De Portugal, África e Brasil, os sítios que a moldam, um entrelugares geográfico que é também o da investigadora no duplo lugar de “nativa e pesquisadora” que esteve em Lisboa em vésperas de Natal a apresentar este “exercício de auto-reflexão antropológica”, o livro que lhe custou “três anos e vinte quilos” — quilos ganhos, avisa.
A conversa vai sendo intercalada por muitas emoções, mas nunca largando o fio à volta do qual a tese também se estruturou: “O meu projecto é feminista, a minha análise é feminista”, diz. Ela é uma mulher a estudar o papel de outras mulheres que se movimentaram num espaço “historicamente masculino” e a analisar as relações de poder que se iam estabelecendo, negociando. “Uma mulher com uma arma subverte códigos culturais e sociais dominantes”, escreve na sua tese. Porque é que decidiu, aos 20 anos, sendo mulher, portuguesa, branca, ir para Angola e ter uma arma na mão? Essa história pessoal está implícita, mas o livro não conta.
Nasceu em Coimbra, no “Penedo da Saudade” — precisa, para situar o sítio privilegiado de onde veio —, numa casa com 40 quartos e “um batalhão de empregadas”, neta de uma latifundiária do Alentejo, filha única. O pai doutorou-se em biologia marítima e oceanografia, em Londres, era professor universitário e fazia comissões de serviço em África. Ela e a mãe acompanhavam-no. Foi assim que Margarida chegou pela primeira vez àquele continente, tinha um ano e meio. “Eu circulava numa elite, mas pertenço a uma geração filha do Império colonial e a maioria dos meus amigos era anti-ditadura. Éramos de esquerda, influenciados pela ideologia romântica e revolucionária do Che Guevara, da Revolução Cubana. Todos tínhamos cartazes do Che na parede — proibidos pela PIDE, claro. Conseguíamos que os livreiros nos passassem livros clandestinamente, do Lenine, do Marx, da Rosa Luxemburgo. Eu era ávida de acção. E os rapazes fugiram quase todos à guerra colonial. Tínhamos dinheiro, podíamos fugir.”
Não falava sobre esse tempo. Nos sítios onde trabalhei não dizia que tinha sido guerrilheira. Imagine dizer isso nos anos 80, quando ainda se estão a digerir os retornados!
Ela estava em Angola por essa altura. Em 1971 fez uma exposição de batiques nas ruas de Luanda e foi presa. O pai intercedeu, ela foi solta, “mas ele ficou assustado, disse-me que eu tinha de me ir embora, sabia que deixaria de ter influência, e a minha mãe estava em Moçambique”. Foi de Luanda para Lovaina, na Bélgica, onde estavam os amigos do Penedo da Saudade. “Em Lovaina tive uma vida muito diferente da deles. Eles andam numa de contracultura, experiências psicadélicas, música, na literatura eram muito Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras. Eu tinha a experiência de África e eles não. Comecei a ligar-me a associações de estudantes africanos em Lovaina e ao Angola Comité. A sede era em Amesterdão. Ia a manifestações contra a guerra do Vietname e sempre que havia manifestações anticoloniais, lá estava eu.
As leituras intensificaram-se na universidade. “Havia o mito da revolução e eu queria juntar-me à revolução.” Sabia onde lutar. “Eu estava do lado dos africanos na luta colonial. Sempre me pareceu o lado justo. Mesmo criança, eu percebia a desigualdade social e racial. Não me identificava com a comunidade branca, nem em Angola nem em Moçambique.” Em Moçambique era mais fácil movimentar-se. Esteve lá antes de Angola, numa comissão do pai. Havia um grupo de esquerda que se relacionava com africanos como o poeta e artista Malangatana ou o escritor Luís Bernardo Honwana. “Eu pertencia a esse grupo. Ia às festas do Malangatana, em Matalana, que duravam toda a noite. Era miúda. Teria uns 15 anos.”
Já circulava no meio africano anti-colonial, mas em Angola não conhecia ninguém. “Consegui integrar-me num grupo também de esquerda, mas que não tinha ligações com o MPLA. Ouvíamos o Angola Combatente, emitido de Brazzaville e que a PIDE proibia, tentávamos fazer ligações à luta de libertação”, continua.
Quando estava na Bélgica, trabalhava pelos três movimentos de libertação africana, a FRELIMO (Moçambique), o PAIGC (Guiné e Cabo Verde) e MPLA (Angola), mas sentia uma ligação mais forte a Angola, “talvez por achar que era um movimento anti-racista, cosmopolita, mais moderno, mais a ver comigo. Eu gostava muito de Angola.” O que é que Angola tinha? “Não sei. Acho que aquela desorganização total me dizia alguma coisa. A desordem e a cultura dos musseques, sobretudo a música e a dança. Era muito forte.”
Em 1973, com 19 anos, tornou-se militante do MPLA. “Achei que o passo seguinte era aderir ao movimento de libertação. Escrevi para o MPLA. Quem recebeu a carta foi o camarada Mbinda [Afonso Van-Dúnem], em Dar Es Salaam [Tanzânia]. Aceitou a minha inscrição. Disse-lhe que me queria juntar ao movimento, que queria ser guerrilheira. Ele disse que não.” Margarida Paredes diz que já não interessava ao MPLA receber mais brancos, “isso criava problemas raciais”; interessava-lhes que estivessem no exterior a fazer trabalho de propaganda, mobilização, recolha de fundos, mas não que fossem para o terreno “criar problemas”. Não desistiu. “Ser guerrilheira e lutar contra o colonialismo português era um sonho”, afirma, como se falasse de um lugar de que está muito longe, embora familiar.
Ficou no exterior a trabalhar e o 25 de Abril apanha-a em Lovaina. “Achei que já tinha esperado de mais e resolvi chegar a Brazzaville [de onde o MPLA dirigia a luta de libertação nacional] pelos meus meios. Eles não me mandaram carta de chamada, mas arranjei maneira de lá chegar, mesmo não havendo relações diplomáticas entre o Congo Brazzaville e Portugal e tendo eu apenas um passaporte português.” Convenceu o embaixador do Congo Brazzaville em França a passar-lhe um visto especial, levando-lhe as cartas do MPLA a provar que era militante. “Expliquei que não me chamavam porque eu era branca mas queria ir para a revolução”.
Nessa altura ainda não havia diálogo entre o Movimento das Forças Armadas portuguesas e os movimentos de libertação. Passou-lhe o visto. “Com a minha mochilinha, apanhei o avião em Paris e quando cheguei a Brazzaville perguntei a um senhor onde era a delegação do MPLA, ele deu-me boleia. E quando cheguei, quem é que está sentado à mesa na recepção do movimento? O José Eduardo dos Santos. Ficou muito pasmado de me ver, uma branca. Perguntou: “Quem é você? O que vem cá fazer?”
Ser guerrilheira e lutar contra o colonialismo português era um sonho
José Eduardo dos Santos era o representante do MPLA em Brazzaville. “Nunca tinha ouvido falar de mim. Mas todos circulávamos no mesmo meio. A mulher do Lopo do Nascimento [primeiro-ministro de Angola entre 1975 e 78] estava lá e tinha sido secretária do meu pai no Instituto de Investigação em Luanda; havia outra senhora que também sabia bem quem era o meu pai, disse: ‘Ela é muito doida!’ Em pouco tempo eu estava integrada.”
Não tardou a conhecer a primeira manifestação de violência. Ainda em Brazzaville. “Apanhei as cisões do MPLA, entre a Revolta Activa e a Revolta de Leste [dividiu intelectuais e militares formados sobretudo pelas forças que lutavam no Leste de Angola]. Eu primeiro fui viver para uma casa da OMA [Organização da Mulher Angolana] mas que tinha homens. Um dia apareceram uns camaradas que me perguntaram de que lado estava. ‘Está do lado da Revolta Activa, não é?’ Perguntei porquê? ‘Porque é intelectual e os intelectuais estão todos desse lado,’ Respondi que não, ‘estou do lado do Neto’.” De Agostinho Neto, o líder político do MPLA que via a sua autoridade em causa com este conflito interno. “Os militares ficaram com Neto e eu estava com eles”, justifica Paredes, e prossegue: “Os intelectuais na Revolta Activa não eram guerrilheiros. Eram dirigentes, quase todos. Era evidente que entre os militares e os intelectuais eu estivesse do lado dos guerrilheiros. Havia um grande respeito pelo Neto enquanto nacionalista.”
Quando disse que estava “com o Neto” pediram-lhe que fosse buscar a sua mochila e saísse daquela casa. “Esta casa é revolta activa”, informaram-na. Foi muito violento porque as pessoas com quem me dava no dia seguinte passaram a ser inimigos. Eu passava por eles e não os cumprimentava, fazia parte das lógicas daquele tempo. Depois o MPLA deixou de receber ajuda da União Soviética e começámos a nem sequer ter dinheiro para comer.” Quando foi para Brazzaville comprou uma passagem de ida e volta porque não sabia se a deixariam entrar. Nesse caso teria de regressar à Bélgica. Trocou esse bilhete de regresso por dinheiro. “Durante um mês sustentei a casa onde estávamos, mesmo assim a comida era uma panela de água com uma posta de peixe e um tomate que fervia ali. Comíamos aquele caldo, meio pão e uma caneca de chá ao pequeno-almoço, mais nada. Passámos mesmo fome.” No momento em que vai trocar a passagem de volta sabe que está a fazer uma opção arriscada, mas não teve dúvidas nem medo. “Só tinha certezas”, sorri, enquanto mexe num dos anéis que usa nas mãos.
Ainda não tinha pegado numa arma. Foi para Luanda em Dezembro, “chego mesmo no último dia do ano de 74 com o MPLA debilitado por todas estas cisões, muitos militares da Frente Leste ficaram com o Chipenda [Daniel Chipenda], havia que reconstruir as FAPLA [as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola]. As FAPLA são proclamadas em 1974 e sem nenhuma mulher assinar.”
No livro, Margarida Paredes escreve: “Depois do 25 de Abril de 1974, os três movimentos nacionalistas, MPLA, FNLA e UNITA, que lutaram entre si durante a luta anticolonial, saíram das matas e entraram nas cidades, continuando a competir no sentido de ganharem legitimidade política e militar no país. […] No MPLA, jovens urbanos de todas as origens sociais desempenharam um papel fundamental na mobilização militar de milhares de homens e mulheres que, sob a palavra de ordem ‘Resistência Popular Generalizada’ rumaram em direcção aos Centros de Instrução Revolucionária, os CIR, que foram criados para as FAPLA se recomporem militarmente da purga sofrida com as divisões internas da Revolta do Leste e da Revolta Ativa em 1974.”
As armas
É criado um Centro de Instrução Revolucionária próximo de Luanda, no Caxito. Margarida Paredes vai como instrutora política e como instruenda militar. Só por isso, por esse duplo papel, não integra o Destacamento Feminino. Ao contrário da FRELIMO, em Moçambique, que tinha um destacamento militar feminino desde 1966, no MPLA só foi criado em 1975. “Eu não tinha instrução militar. Faço a instrução com o malogrado Destacamento Feminino de que as comandantes serão fuziladas [na sequência da revolta de 27 de Maio de 1977]. É aí a primeira vez que pego numa arma”, refere.
Uma das mulheres com quem falou para este livro, Eunice Mendes, coronel das FAA [Forças Armadas Angolanas], tinha 16 anos quando saiu do liceu para receber instrução militar no CIR Certeza, comandado por Nito Alves, mentor do movimento de contestação a Agostinho Neto, que seria chamado ‘Fraccionista’ em 1977. Eunice conta que eram “oito a dez mulheres” e uns 200 homens. “Quando cheguei ao CIR, por causa da minha idade e da minha altura, duvidaram da minha capacidade. A primeira pergunta que fizeram era se eu estava preparada de facto para aguentar o treino militar. No primeiro dia havia uma marcha de 16 km e como eu em Luanda treinava atletismo no Sport Luanda e Benfica, destaquei-me nessa marcha e fui das primeiras pessoas a chegar, até os instrutores ficaram para trás. Aí não houve dúvidas em relação à minha resistência e aptidões físicas.”
É uma história diferente da de Filomena de Carvalho, nome de guerra Mena Bodega, actual tenente-coronel na reserva. “Tinha 15 anos quando fugiu com a irmã e outros jovens para o Congo sem a mãe saber. Fingiu que ia comprar pão e não regressou a casa”, escreve Margarida Paredes. Diferente da de Eunice excepto na motivação. A voz agora é de Mena: “Eu era criança, mas tinha consciência de que havia movimentos que lutavam pela independência de Angola. O meu pai foi preso pela PIDE nos anos 60, ouvia o Angola Combatente, e o meu primo Luís Kiambata, alferes das FAP, trabalhava no laboratório de engenharia, foi ele que desviou um avião para o MPLA, no Congo.”
No livro, Eunice contextualiza. Lembra a instrução que recebiam: “… tínhamos uma cartilha à base do marxismo-leninismo”. E Margarida Paredes escreve: “A instrução militar não garantia às mulheres uma relação de igualdade com os homens”. Deixemos a cientista social e voltemos à ex-combatente: “É verdade, as mulheres sempre foram secundarizadas. Na instrução militar davam-nos as armas piores. A PPSH, uma metralhadora, não tinha segurança nenhuma, assim que a púnhamos no chão começava a disparar sozinha. Ou então a G3 do exército português, que não queríamos por ser a arma do inimigo. Se conseguíamos uma Kalashnikov era um orgulho, a arma do guerrilheiro. Eu tive uma Kalashnikov. Apesar de ter disparado com uma PPSH, mas nunca com uma G3.”
Margarida Paredes só lutou durante a guerrilha urbana. “É preciso conhecer bem a cidade e os musseques. A maior parte dos combates era nos musseques. A não ser numa luta corpo a corpo uma pessoa não tem consciência se atinge o adversário ou não.” Matou alguém? “Não sei”.
Não diz nada durante uns segundos. E depois: “Vi muita gente cair ao meu lado, eram atingidos e eu não. Pouca gente tem consciência de que morreram muitos mais militantes e guerrilheiros nas guerras por Luanda — um ano — do que durante os 14 anos da luta de libertação. Os movimentos lutavam entre si. Apesar de eu ter sido feita prisioneira pelas FAP no ataque à Vila Alice [27 de Julho de 75, de que resultou a morte de 14 militares das FAPLA depois das FAP terem pensado que um militar português fora atingido], os combates não eram contra as Forças Armadas Portuguesas. Eram entre os três movimentos de libertação.”
A “ferida”
Mas a “maior ferida” estava por abrir. Aconteceu a 27 de Maio de 1977. “Foi a maior ferida humana do MPLA. Porque foi interno, foi irmão contra irmão, pai contra filho, era entre famílias. As pessoas desapareciam, não se sabia se estavam presas ou se tinham sido fuziladas. Eram pessoas com quem nos dávamos. Perguntávamos: ‘então fulano?’; ‘Não sei, já deve ter ido.’ Nunca se sabia o que lhe acontecia. Toda a gente tinha medo de falar, até de perguntar pelas pessoas e com isso conotá-las com os Nitistas.” Margarida Paredes refere-se à sublevação que se seguiu à exoneração de Nito Alves do MPLA por contestar a política de Agostinho Neto, o presidente desde 11 de Novembro de 1975, o dia da independência da Angola.
A versão desse momento da história recente de Angola difere da oficial e rompe com o silêncio que se seguiu à reacção de Neto a essa revolta. Segundo Paredes, foi o Destacamento Feminino, comandado por Elvira da Conceição, a Virinha, quem dirigiu as acções militares de 27 de Maio. Para defender a sua tese, recorre mais uma vez ao seu testemunho pessoal e aos do que sobreviveram para contar, bem como a trabalhos que foram sendo publicados.
A não ser numa luta corpo a corpo uma pessoa não tem consciência se atinge o adversário ou não.” Matou alguém? “Não sei”
Para a investigadora, o facto de o papel das mulheres na sublevação ter sido silenciado foi também por representar “um golpe à masculinidade” do exército. “Para o Destacamento Feminino, o Nitismo talvez tenha representado a possibilidade de mais respeito, menos injustiça e maior igualdade de género”, escreve sobre a provável motivação das mulheres para participar no golpe que nesse dia forçou a entrada na Cadeia de S. Paulo, com o objectivo de libertar presos políticos. Foram “quatro horas de combate intenso”, contou Américo Cardos Botelho, um preso português que então estava naquela prisão e é citado por Paredes. Pela manhã, Virinha e Nandi, a número dois do Destacamento, grávida de oito meses, “foram vistas na Rádio Nacional em cima dos tanques que ocupavam a rádio”, conclui em defesa dessa versão.
Nesse dia Agostinho Neto, no Jornal de Angola, declarava: “Não haverá perdão nem tolerância para estes aliados da reacção.” A frase é recuperada por Margarida Paredes, com outra: “Não haverá contemplações”. Para Paredes, acabava de ser ateado “o rastilho para a mais brutal das repressões”, isso “institucionalizava a morte e a tortura como política de Estado”.
Esta conclusão só lhe foi possível agora, confessa, enquanto investigadora social, dando dados sobre as execuções, as prisões que se sucederam. “Não sabemos quantas mulheres foram vítimas da repressão pós-27 de Maio”, refere no livro num subcapítulo onde “serão as sobreviventes a recordar a tortura, a violência extrema, as ofensas e humilhações sofridas após a derrota Nitista”.
Onde estava Margarida Paredes nessa altura? “Eu estava numa situação muito diferente. Estava para casar com um comandante do MPLA, o Dangereux [comandante Paulo da Silva Mugongo, membro do Comité Central do MPLA, do Estado-Maior das FAPLA e do Conselho da Revolução] que foi morto pelos Nitistas. O que desencadeia a repressão foi a morte de comandantes como ele.” Faz uma pausa. “Era evidente que a minha posição era tranquila em relação ao regime porque o Dangereux era uma espécie de delfim do Agostinho Neto e se eu estava para casar com ele isso fazia de mim Netista. E eu era Netista. Nunca estive do lado do Nito. Mais tarde fui viver com aquele que viria a ser o pai do meu filho, angolano da comunidade branca. Chegou uma altura em que ele disse que ia embora, que não aguentava aquilo. Eu também já não aguentava, mas não tinha coragem de dizer. Ele acabou por ir. Veio fugido, como se viesse de férias e não regressou. Eu fiquei.”
As razões começam a ser pouco claras vistas a partir de agora. “Sentia-me tão parte daquele processo, há tantos anos ligada a Angola, à luta de libertação, aos angolanos, que não conseguia ir embora. Era verdade que não aguentava, mas não tinha consciência. Por exemplo, de questionar a posição da elite dirigente.” Faz outra pausa. “Ele veio embora e eu só venho um ano depois. Aquilo ficou muito complicado. Virou um regime marxista-leninista. O MPLA passou a partido do trabalho, todo o discurso ideológico se extremou, com ligações ao regime soviético, não havia um certo liberalismo que tinha existido durante a luta de libertação. Eu nessa altura nunca tinha ouvido falar do Matias Miguéis, que foi o primeiro a ser morto pelo MPLA. Esse tipo de informação não circulava dentro do movimento. Tive acesso a ela fora, anos depois.”
Recorda o testemunho ouvido em 2012 à mãe de Virinha. “A Virinha foi uma das fuziladas. Foi a única entrevista que a mãe dela deu e faleceu sem ler o livro, o que me desgostou. A mãe dela passou 40 anos a ouvir dizer que a filha era uma ‘fraccionista’ e uma criminosa, sempre a acusarem-na. Gostava que ela tivesse lido o que escrevi, talvez ficasse reconciliada com a memória da filha. Ela vivia com a dor. A estratégia de sobrevivência foi não falar da filha, tentar esquecer.”
É um trauma individual e colectivo, considera Paredes. “A ferida nunca sarou nem pode sarar porque continua sem se falar disso. Alastrou ao tecido social. Não houve uma tentativa de reconciliação entre as partes em conflito. Estas mães não tinham atestado de óbito dos filhos. Não podem fazer um luto. Recentemente, quando estes activistas foram presos [acusados em Junho passado de preparar uma revolta contra o presidente angolano e que levou à greve de fome de Luaty Beirão, em protesto contra o prolongamento da prisão preventiva sem julgamento], José Eduardo dos Santos acenou com o conflito de 27 de Maio. As pessoas sentiram isto como uma ameaça. E a razão por que é tão difícil mobilizar, por exemplo, os jovens para as manifestações é porque a memória dessa repressão ainda está muito presente. As pessoas têm medo de serem mortas. Mesmo esta geração, é uma pós-memória, as mães e os pais dizem-lhes ‘não te metas em política senão podes desaparecer’; ‘olha que te matam’; ‘não fales’.”
A mudança
José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto em 1979, que morreu nesse ano em Moscovo, de cancro. O homem que a recebeu em Brazzaville era agora o Presidente da República de Angola. “São duas pessoas diferentes. O que está no poder e o de 1974”, refere. “Conheci-o pobre, com a ajuda de um dicionário de russo-francês ensinei a primeira mulher, a Tatiana [Tatiana Kukanova, mãe de Isabel dos Santos], a falar português.”
Margarida Paredes movimentava-se bem nos musseques, impenetráveis para brancos. “Eu era conhecida e circulava sem problemas. Os pais do José Eduardo moravam num casebre no musseque do Rangel, em Luanda. A Tatiana queria ir levar comida, cobertores, dinheiro, porque eles viviam em grandes dificuldades e a maneira de lá chegar era comigo. Íamos no meu carro. Os pais dele moravam num dos casebres mais pobres. Foi logo a seguir à independência, e apesar do filho ser ministro das Relações Exteriores, na altura ninguém tinha acesso a bens. Com a guerra às portas de Luanda e após os brancos da comunidade portuguesa terem saído, não havia comida. De uma maneira geral todos passámos mal. Eu nem por isso. A minha mãe mandava um caixote de comida todas as semanas para Angola através de um indivíduo da TAP. Mandava-me tudo, queijo, bacalhau, sempre duas garrafas de vinho. Eu era uma privilegiada e distribuía o que recebia pelos amigos. A Tatiana sabia sempre quando o meu caixote tinha chegado e pedia-me as garrafas de vinho. Trocaram-nas por um carro. Veja a ironia, o primeiro carro que eles tiveram foi comprado com as minhas garrafas de vinho. Ensinei-a a conduzir nesse carro.”
Não há mais episódios em comum. “Na altura em que ele foi nomeado, deixei de ter acesso à presidência. Com o Neto, tinha. “Se José Eduardo tivesse abandonado o poder depois do fim da guerra civil [em 2002] seria recordado como o ‘arquitecto da paz’ porque integrou os homens (as mulheres ficaram de fora dos acordos de paz) das FALA/UNITA nas Forças Armadas Angolanas e condenou qualquer reacção contra os perdedores da guerra. Mas o facto de persistir no poder ao fim de 36 anos, reprimir violentamente toda a oposição e manifestações que questionam o seu poder e se ter tornado num dos homens mais ricos do mundo à custa da apropriação do erário, coloca-o no mesmo lugar dos tão detestados ‘ditadores africanos’.” E acrescenta: “Estou convencida de que se tivesse passado por ele durante estes anos todos ele fingia que não me conhecia. Esta não é uma boa memória. Estou a dar testemunho de que ele era pobre.”
Margarida Paredes não quer que a sua biografia faça sombra ao trabalho que desenvolveu. O que vai dizendo é com essa preocupação. Mas não é possível separar as trajectórias das mulheres que ouviu da sua, porque foi o seu percurso que a fez interessar-se pelo tema para uma tese. “Defendo que foi a participação das mulheres nas listas de libertação, sobretudo, que lhes deu a hipótese de negociar e neste momento ocuparem posições de poder.” Muitas são hoje deputadas, oficiais das forças armadas, diplomatas.
Mas há um efeito espelho, através dos testemunhos daquelas mulheres, Margarida consegue perceber-se melhor nesse processo. As do MPLA, as da FNLA, as da UNITA. “As mulheres no exército, lutem onde lutarem, sentem necessidade de se masculinizarem porque estão inseridas numa estrutura com uma cultura masculina. Há uma militar que diz que no exército não há mulheres nem homens, só há soldados. A ideia é essa. Têm de ser todos iguais e atingir os objectivos dos homens, por isso elas têm que negociar... Elas dissociam género e sexualidade. De biologia são mulheres, a cultura ou género é masculino, e na sexualidade são heterossexuais... Sujeitam-se a tudo. Aos castigos, oferecem-se como voluntárias para a frente, estão sempre numa de mostrar mais coragem do que os homens. Há uma que diz que deu uma chapada a um homem porque ele não ia para a frente.”
A voz do livro é a voz dessas mulheres e reflecte diferenças de classe, de educação, de origem, de etnia. Todas pegaram em armas, fizeram a guerra quando se espera que a mulher “faça a paz”. Nessa guerra, alguma vez se interrogou sobre se esteve do lado errado? “Continuo a considerar que na altura o MPLA era o movimento mais indicado para conduzir o país. Mas neste momento estou nitidamente na oposição ao regime. Sou da família MPLA. Assumo, em termos afectivos e não ideológicos. Continuo a dizer isso. Como investigadora, tentei ser isenta. Não tomei partido. Escrevi a pensar também que ele pode contribuir para a reconciliação nacional. A ideia de as mulheres angolanas serem só uma”, refere. “Elas lutaram no seu país, pelo seu país. É um trabalho influenciado pelo tipo de diálogo que se estabeleceu entre mim e elas.”
É através dessas vozes que quer dizer que o conflito de 27 de Maio “foi uma sublevação militar em que os tanques saíram dos quartéis da 9.ª Brigada e foram ocupar a prisão e a rádio, e não uma manifestação como algumas pessoas dizem. Foi uma sublevação militar comandada pelas mulheres. Isso ninguém diz, nem a Lara Pawson [jornalista britânica autora de Em Nome do Povo — O Massacre que Angola Silenciou, Tinta da China]. Isso vai entrar em conflito com a História que se está a construir sobre o 27 de Maio”, refere.
Espera que por essas vozes se perceba que é preciso olhar para o que se está a escrever da parte de Portugal sobre essa história recente. “Estamos habituados aos testemunhos dos homens militares das Forças Armadas Portuguesas e à história colonial que se construiu à volta disso. Falam muito das terroristas ou das ‘putas’, que é como muitos se referem às nacionalistas. Tratam-nas como se fossem umas selvagens, atrasadas, primitivas. Sobre o 15 de Março de 1961, quando a UPA atacou o Norte de Angola, a visão em Portugal é a de que foi uma carnificina. Este livro é a versão africana desses factos a partir dos quais Portugal faz a leitura colonial. É o outro lado da História, para mais através de mulheres.” A revolta do Kassange, as prisioneiras do campo de concentração de São Nicolau, o Batalhão 69 da UNITA. São nomes familiares de uma história recente que Margarida Paredes revisita num livro que espera seja lido em Angola e em Portugal e contribua para mudanças.
Quando regressou a Portugal, em 1981, também ficou em silêncio sobre esse tempo. “Comecei a ficar muito infeliz porque não acontecia nada”, comenta, sobre o tédio que sentiu. O que fazia? “Nada. Estava deprimida, faltava adrenalina.” Foi passando. Nos empregos que foi tendo, não se revelava como ex-guerrilheira e aos 50 anos voltou à universidade. “Quando o meu filho entrou para Arquitectura eu fui para Estudos Africanos”. Seguiu-se o doutoramento em Antropologia, no ISCTE. Ganhou uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia e foi para Angola estudar as mulheres guerrilheiras, “resgatar vozes e memórias”. Esteve um ano em Angola em condições precárias que descreve no prólogo a esta tese orientada por Miguel Vale de Almeida.
Está feita. Vai voltar para o Brasil, onde dá aulas e onde vive o pai, há 40 anos, desde que saiu de Angola, e também a sua meia-irmã. A mãe está em Portugal. “O meu pai e a minha mãe admiram-me, faça eu o que fizer”, diz, sobre como reagiram a ter uma filha guerrilheira. “Quando se deu a independência ficámos cada um num continente: o meu pai no Brasil, a minha mãe em Portugal e eu em Angola. Sou desses lugares.”
A minha mochila tinha sempre o pano, um lençol e o resto eu desenvencilhava. Eu era a única que fazia aquilo. Aí, acho que não era uma questão de género, mas mais uma questão de classe
Falta uma pergunta: o que levava na mochila que não largava, coisas de mulher? “Vai-se rir. O que marcava mais a minha posição na guerrilha era a questão de classe. Num processo revolucionário, ser burguês era ser contra-revolucionário. Eu estava-me um bocado nas tintas. Andava com um lençol com elástico que tinha levado da Bélgica, ajustável. Era castanho. Mesmo com capim, na caserna, fazia cama, depois arranjava um caixotinho de papelão ou madeira, fazia uma mesinha de cabeceira e punha um pano africano na parede. Dormíamos vestidos, não tirávamos a farda, mas o meu cantinho era o cantinho burguês. Eu não prescindia. A minha mochila tinha sempre o pano, um lençol e o resto eu desenvencilhava. Eu era a única que fazia aquilo. Aí, acho que não era uma questão de género, mas mais uma questão de classe.”