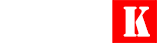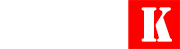Luanda - Domingos da Cruz, também conhecido por “Maninho”, foi considerado pelo Ministério Público como líder do grupo de 17 activistas que foram presos e condenados, em primeira instância, a penas que vão dos 2 aos oito anos de prisão. Domingos da Cruz foi condenado a oito anos e seis meses de prisão, a maior pena entre os 17 “revús” (15 homens e duas mulheres).
Fonte: RA
 Ao longo da conversa, Domingos da Cruz utiliza um tom de voz bastante pausado. Demora um pouco a começar a responder às perguntas – mas quando o faz a mensagem passa sem grandes interrupções. Veste calça jeans e um bubu, em tons de verde claro. Vai utilizando citações de autores que aprecia para ilustrar os conceitos políticos que defende.
Ao longo da conversa, Domingos da Cruz utiliza um tom de voz bastante pausado. Demora um pouco a começar a responder às perguntas – mas quando o faz a mensagem passa sem grandes interrupções. Veste calça jeans e um bubu, em tons de verde claro. Vai utilizando citações de autores que aprecia para ilustrar os conceitos políticos que defende.
É arrasador quando analisa o trajecto político de José Eduardo dos Santos e as suas acções enquanto Presidente da República. Acredita que vivemos sob um regime totalitário e explica porquê. Reconhece que as críticas que faz, que classifica como um exercício de liberdade, têm custado caro à sua vida privada e até à família (Domingos da Cruz tem 34 anos, é casado e tem dois filhos).
Professor de filosofia, jornalista, mestre em Ciências Jurídicas na especialidade Direitos Humanos, lembra que “o processo judicial ainda não terminou”, que a sua liberdade é precária e que “pode ser revertida amanhã mesmo”.
Desde que publicou um livro com o título (bastante polémico) “Quando a Guerra é Necessária e Urgente” que a sua vida mudou completamente. Desde aquela altura que os meios de comunicação social, mesmo os privados, afastaram-se da sua colaboração. O que aconteceu?
Sim, recuaria até ao ano de 2008. Talvez não se tenha apercebido que, desde que publiquei um artigo chamado “Para onde vai Angola?” (ainda antes do artigo que referiu), a instituição onde prestava serviço como professor recebeu uma instrução do grupo hegemónico para que eu fosse tirado.
Qual era a instituição?
O Colégio Santa Catarina, onde era professor de Filosofia. De lá para diante a perseguição permanente e sistemática foi-se intensificando. O título do livro é o título de um dos artigos que publiquei no Folha 8 e que depois titulei em livro, relativamente mais desenvolvido. Mas o livro continha outros elementos para além, claro, daquele artigo que deu origem ao título. Por exemplo, desde essa altura que a Rádio Ecclésia deixou de me ouvir. Ao nível dos jornais aconteceu exactamente a mesmíssima coisa. Até hoje o espaço mais livre, do meu ponto de vista, ainda continua a ser o Folha 8. E o Club K. Nesses lugares continuei a manifestar as minhas opiniões.
Os meios de comunicação social que referiu têm, por vezes, sérios problemas com a ética da profissão, independentemente de serem espaços abertos, como poucos, à oposição política.
Se calhar eles têm acesso a fontes de informação que os outros não têm. Mas no fundo estava apenas a fazer uma constatação. Esses limites também se estenderam para outros campos do ponto de vista da minha realização. Havia mais dificuldades para fazer aquilo que sei – ser jornalista e trabalhar ao nível da academia. Mas devo dizer-lhe que também nunca tive pretensão absolutamente nenhuma de vincular-me a algum órgão que estivesse sob tutela do poder hegemónico em Angola. Os órgãos que conhecemos estão sobre controlo do mesmo grupo.
Porquê?
Porque se tentasse seguramente não seria aceite. Por outro lado, a minha forma de ver o país não vai de acordo com a visão das pessoas que controlam esses órgãos de comunicação. Tento sempre preservar a minha liberdade ao máximo, embora saiba que não é possível atingir a liberdade total.
As empresas de comunicação social vivem de uma certa ambiguidade no seu interior, é na diversidade de opiniões dentro de uma redacção que se fazem bons trabalhos. Muitas vezes o contexto, e a forma como se faz jornalismo, é mais complexo do que tendemos a pensar.
Concordo parcialmente, é verdade que o perfil das pessoas que lideram os projectos pode moldar o estilo dos jornais e isso tudo. Mas também não há dúvidas que existem questões que os proprietários depois vêm e dizem: “olha, sobre isso não gostaríamos que fosse publicado”. É inevitável acontecer. Não é uma questão meramente ficcional.
É verdade, quase todos já passámos ou conhecemos situações de interferência nas linhas editoriais. E até de censura e auto-censura.
Trata-se de existirem, efectivamente, no contexto angolano de exercício do jornalismo, práticas de interferência na linha editorial dos meios de comunicação social. Sabemos de ocasiões em que determinado jornal não foi impresso, em que à última hora os patrões recomendaram que se retirassem os jornais da rua, em que compraram edições inteiras à boca da gráfica. Não é nada ficcional. Efectivamente existe no contexto angolano. Quer queiramos, quer não, infelizmente, não é o mesmo que se passa na África do Sul ou noutros lugares.
Por acaso, a South Africa Broadcasting Company (SABC) está por estes dias a viver um clima de autêntico combate interno devido a acusações de censura que recaem sobre o actual PCA, Hlaudi Motsoeneng. Que na verdade é olhado como um agente do ANC que interfere na linha editorial da estação pública de rádio e televisão quando lhe convém.
Ok, mas ao nível em que nós estamos, não sei. Sinceramente, não sei. Ao menos na África do Sul há um debate sobre isso, há uma luta interna para se resolver o assunto, aqui não te deixariam lutar por nada. Apenas diriam: vai-te embora. Como é óbvio, os maus exemplos também não servem para nós.
Estas questões podem ser bastante complexas. Vejamos o caso da segunda intervenção militar ocidental no Iraque. Alguns meios de comunicação americanos eram críticos do governo de George W. Bush e sempre desconfiaram dos motivos que alimentavam a necessidade da invasão – a suposta existência de um programa iraquiano de produção de armas de destruição em massa. Não havia programa algum, como se desconfiava na altura e hoje está confirmado. O governo americano e os seus aliados chantagearam a opinião pública americana (e internacional) ao introduzir, nos principais meios de comunicação social, informações totalmente falsas e que não foram devidamente confirmadas pelos jornalistas.
Levantas uma questão que é bem mais profunda do que o mero agir por pura arbitrariedade e ódio em relação a uma pessoa. Remete-nos para um grande debate no âmbito da chamada teoria do interesse nacional ou da liberdade de expressão. Inclusive ao nível dos direitos humanos admite-se que em nome da segurança nacional, da preservação da moral pública e da segurança das pessoas, se possa de alguma maneira limitar direitos.
Limitar direitos é sempre muito questionável. Mesmo que seja em nome da segurança nacional.
É verdade, não é uma questão conclusiva. É extremamente polémica. Mas a ideia de perseguir o fulano, o indivíduo, é uma questão muito mais séria.
No caso dos EUA, a decisão de partir para uma segunda intervenção militar no Iraque teve perigosas consequências a vários níveis, no mundo inteiro, que vivemos até hoje. E depois nós sabemos que há motivações económicas, lucrativas, que envolvem estas decisões.
Um dos maiores perigos da democracia norte-americana é o mundo empresarial. Por exemplo, ao nível das campanhas eleitorais as grandes empresas financiam candidatos e partidos e depois influenciam para a aprovação de leis a seu favor. É um grande perigo para a articulação minimamente livre daqueles que chegam ao poder. Tal quadro, na política, tem também a mesma consequência no âmbito mediático. Sem dúvida.
Voltando ao processo judicial: considera que o seu caso é um pouco diferente dos restantes, já que existe uma continuidade que começa com a acusação de crimes contra a segurança do Estado, no seguimento dos artigos de opinião que falámos anteriormente?
Estamos perante uma actividade persecutória que vem desde 2008. Em brincadeira, o [Albano] Bingo e o Nito [Alves] gostavam de dizer, na cela, que há muito tempo que me queriam agarrar e desta vez ganharam uma oportunidade. “Assim está bom porque somos muitos de uma só vez”, diziam. Se fosse só uma pessoa poderia ficar a ideia de um ódio dirigido. Como estamos num grupo, consegue-se desviar a ideia do ódio particularizado. É surpreendente que, com base no livro “Quando a Guerra é Urgente e Necessária”, eu tenha sido acusado de incitar a guerra, violando a Lei dos Crimes Contra a Segurança do Estado, de 1978, que supostamente ainda estaria em vigor.
E não estava?
O processo judicial foi aberto em 2008 e arrastou-se até 2013, período em que aconteceu o julgamento. Mas, em 2013, a tal lei tinha sido revogada, havia outra actualizada que nasceu em 2010. Ainda assim o tribunal, entre aspas, porque eu entendo que este país não tem um sistema judicial, insistiu em levar-me a julgamento. Era bastante surpreendente que um tribunal que se queira minimamente sério tente julgar uma pessoa com base numa lei já revogada. Ficou bastante claro o ódio contra mim, para além de outras coisas, sobre as quais prefiro não fazer referência ao nível da opinião pública. Mesmo agora, faço questão de me remeter ao silêncio em relação a elas.
Porquê?
Por uma razão bastante simples: existem coisas que acontecem comigo, com a minha família, por causa da minhas escolhas e das minhas opções que, se as revelar, receio que algumas pessoas que têm vontade de lutar por uma Angola diferente deixem de o fazer. Porque hão de pensar: afinal, o Domingos passou por tudo isso? Então faço questão de me remeter ao silêncio sobre determinadas situações que ocorrem comigo e com a minha família.
Qual é a sua opinião sobre o processo e sobre a decisão do Tribunal Supremo ter aceite o pedido de habeas corpus e de ter reconhecido o vosso direito a voltar para casa, até que o tribunal decida o recurso à condenação em primeira instância?
No contexto de Angola gostaria de reafirmar a minha convicção muito subjectiva de que este país não tem um sistema judicial. Mas seja o que for, eu olho para o nosso processo dentro de um quadro puramente contextual. Angola tem um regime autoritário. Não é o Domingos da Cruz que afirma, são organizações internacionais como a Human Rights Watch ou a Freedom House ou pesquisadores em diferentes universidades do mundo, em África, no Canadá, nos EUA e na Europa. Infelizmente colocam-nos permanentemente entre os países não-livres. A nível de África quero lembrar o índice Mo Ibrahim, que nos coloca permanentemente numa posição bastante desconfortável – seja do ponto de vista da cultura política ou do exercício das liberdades. Estamos muito mal. É neste quadro que coloco o nosso processo. Se temos um regime autoritário e o que nós estávamos a fazer era um exercício de liberdade, era uma tentativa de exercício de liberdade, ademais imbuídos num espírito de construção de um país diferente deste, pensando numa sociedade livre como diria [o filósofo alemão Jurgen] Habermas ou Popper, é normal que o regime reaja negativamente, tendo em conta a sua natureza. Se em Cuba houvesse liberdade de expressão e de imprensa seria contraditório com o regime cubano. O regime angolano, ao prender-nos, ao abrir um processo contra nós, está única e exclusivamente a ser coerente com a natureza do sistema político, económico, social e cultural que construiu. É neste quadro que coloco o nosso processo. Para além do mais, o que queríamos propor põe em causa todos os interesses instalados.
Em que sentido? Quais são as vossas propostas?
Uma sociedade livre, onde haja transparência, onde haja liberdade económica, por exemplo, destrói todos os monopólios. Com um sistema judicial independente, inúmeras pessoas que subtraíram dinheiros públicos inevitavelmente deverão ser responsabilizadas. Alguém dirá que, se calhar, precisamos de uma solução política para amainar os espíritos e começar tudo de novo – talvez, é algo que vale a pena discutir. Alguém que queira propor uma sociedade completamente livre e verdadeiramente democrática deverá inevitavelmente discutir uma solução para o país. Caso seja contrária a essa posição deve, no mínimo, tolerar que se faça um debate sobre o assunto, participar e apresentar os seus pontos de vista. E deixar que os argumentos mais consistentes possam prevalecer. É neste quadro que eu coloco o nosso processo: o regime reagiu para preservar os interesses instalados. A hegemonia. Está única e exclusivamente a ser coerente com aquilo que eles construíram.
Falamos de uma questão política que foi cooptada pela justiça?
Estou a falar por mim mesmo, usando a minha liberdade individual. Posiciono-me enquanto pessoa. Veja, a pergunta que colocou anteriormente ainda não terminou de ser respondida. A segunda parte da pergunta suponho que seja: como avalia a decisão do Tribunal Supremo?
Sim. O que pensou quando soube que seria libertado?
Tecnicamente, nós nem sequer devíamos ter ido, no dia da sentença, directamente para a cela. Tendo havido um recurso com efeito suspensivo a lei é bastante clara. A não ser que exista em direito penal um novo conceito de recurso sem efeito suspensivo, ou mesmo sem o termo suspensão. Deveríamos ter voltado para casa. Isso não aconteceu porque o tirano, aquele que é a síntese do poder total em Angola, assim decidiu. Decidiu que deveríamos voltar para a prisão para, mais uma vez, fazer a sua administração do poder absoluto. Sendo que terá sido um homem que nos mandou para a prisão, inevitavelmente terá sido ele a decidir o nosso regresso. Mas não se trata de chegar a um momento em que a pessoa conclui que está errada. Não, é o contexto que nos encontramos. Estamos num ambiente de incertezas.
Refere-se à crise financeira e económica que o país vive?
Quase todas as esferas com implicações do ponto de vista político e social, particularmente no plano financeiro e económico, inviabilizam a articulação desse animal político. O contexto também favoreceu a pressão, particularmente a nível internacional, embora cá dentro também, mas na minha opinião acho que lá fora foram muito mais acutilantes nas persistentes denúncias. E mais consistentes nas acções. Expuseram bastante a natureza do regime e pode-se dizer que desta vez conseguimos, não sei como, mas conseguimos colocar o ditador no seu devido lugar. Passava-se a ideia que Eduardo dos Santos é um político polido, altamente sofisticado ao nível do continente, e agora está na galeria dos ditadores. Ao lado dos grandes ditadores que existem no mundo. Foi ele que decidiu, não há tribunal nenhum que nos possa colocar nesta situação.
Que elementos, na sua opinião, fazem parte de uma ditadura?
Para que possamos compreender o que é uma ditadura é preciso explicar as suas características em oposição a uma democracia. Onde não há uma imprensa livre, onde não há um sistema judicial independente, onde não se permite o exercício daquilo que hoje alguns universalistas chamam de ética universal, que são os direitos humanos, aliás, os direitos humanos são o alicerce para que se possa caracterizar um regime como sendo democrático ou não. Onde não há respeito pelos direitos humanos, onde as pessoas não conseguem concretizar os seus direitos mais básicos, pode-se efectivamente concluir que se está diante de uma ditadura. É óbvio que falar de direitos humanos é falar de um campo extremamente complexo e abrangente. Temos de começar por falar dos direitos mais básicos como o acesso à água, à habitação, à saúde e tantos outros. Para não ir aos direitos mais difusos – hoje já se fala até em direito à internet.
Bom, acho que não é preciso ir tão longe [risos].
Coloco-me no plano puramente teórico para lembrar que é assim que os estudiosos avançam. A democracia é super-interessante. Por exemplo, o direito das mulheres terem autonomia na gestão do seu próprio corpo, o respeito pelas minorias étnicas e culturais… É preciso deixar que existam grupos de resistência, no sentido de não subscreverem aquelas maiorias. Porque a democracia também é exactamente isso.
Digamos que a democracia é a vontade da maioria – mas sem nunca deixar cair as minorias, qualquer que seja a sua origem ou objectivos.
É um elemento sobre o qual, infelizmente, a nossa sociedade nem sequer está interessada em analisar. A mim preocupa-me bastante também essa falta de concepção epistomológica da democracia, no contexto angolano. O que faz com que muitas pessoas não sejam capazes de discutir a questão com a profundidade necessária. Quer queiramos, quer não, alguns vão dizer que este individuo está a ser demasiado teórico. Mas as sociedades que conseguiram progredir fizeram-no com base na teoria e na filosofia. Tudo o que sabemos começou num discurso puramente teórico e depois concretizou-se na prática.
Referiu uma questão muito interessante – o direito das mulheres decidirem o que fazem com o seu corpo, que por sua vez pode articular-se com a questão da despenalização do aborto e até da sexualidade, entre outras. Há sempre um plano ideológico, são as nossas convicções pessoais. A legalização do aborto está na ordem do dia por causa do novo Código Penal. Há algum tempo atrás, parecia que o MPLA se preparava para propor a despenalização. A Igreja Católica não se fez rogada perante o debate e rapidamente utilizou a Rádio Ecclésia para propagandear a sua total discordância em relação àquela ideia. As questões que envolvem o direito ao corpo e os direitos das mulheres são temas que lhe agradam discutir?
Eu não me coloco propriamente num quadro puramente ideológico. Se há uma ideologia que eu abraço é a ideologia pela dignidade da pessoa humana. E tenho simpatia pela democracia porque acredito que consegue respeitar a dignidade da pessoa humana.
Mas há vários caminhos e formas de respeitar a dignidade das pessoas, ou pelo menos não há um consenso sobre isso. Como não pensamos todos da mesma maneira, a ideologia acaba por ajudar a nos posicionarmos em relação ao caminho que mais nos agrada.
Sim, se quisermos fazer um enquadramento, eu seria mais ou menos um intelectual de esquerda. Não um esquerdista radical, mas aquele que entende que certos valores que engrandecem a dignidade da pessoa humana, que não aviltam a pessoa, que não negam o valor da pessoa, são efectivamente respeitados. No contexto de Angola, eu entendo que a reacção que a sociedade teve em relação à possível legalização do direito ao aborto – não conheço a existência de uma proposta nesse sentido, por isso não tenho opinião sobre o mérito ou demérito do postulado legal – está relacionada com a tradição puramente cristã que tem dominado a sociedade angolana há mais de seis séculos. E que tem uma grande influência sobre as pessoas, quer queiramos, quer não. Agora, houve uma reacção da Igreja Católica que se posicionou consoante os valores em que acredita.
Certo, mas a Igreja Católica utilizou argumentos populistas e de grandeza moral quando o tema do aborto é, acima de tudo, uma questão de direito individual das mulheres. E uma questão de saúde pública.
Também é democrático que a Igreja Católica se posicione. Não há nenhum impedimento. Isso não significa que Angola seja uma democracia, de modo nenhum. Sobre pena de haver aqui uma contradição. A cedência que houve, da parte do poder público, enquadra-se perfeitamente no âmbito do respeito por um parceiro fundamental para a manutenção do poder político. É bom que o grupo hegemónico não entre em rota de colisão com um parceiro fundamental, que também ajuda a manter a ditadura. Não seria bom quebrar o apoio de uma confissão religiosa que está sob tutela do poder político angolano e que é completamente conivente. No futuro, também serão responsabilizados. Não judicialmente mas ao nível da moral.
Porquê?
Chegou um momento na minha vida em que achei que não fazia muito sentido. Fui católico e também tinha um sentido ecuménico muito forte, influenciado pelo Concílio Vaticano II, que defende a tese do ecumenismo como um elemento fundamental para a paz no mundo. Então, quando fosse convidado por um amigo adventista ou do sétimo dia ou da Igreja Baptista ou Testemunha de Jeová também frequentava aqueles cultos. Sem compromisso institucional mas na lógica do ecumenismo. Mas depois acho que, talvez há uns 10 anos, a partir de 2004-05, sim, fui-me afastando. Não só do ponto de vista da prática mas também da subjectividade. Cada vez mais vou aprofundando a dúvida, se vale ou não vale a pena acreditar em algo maior. Entre o acreditar ou não acreditar [em Deus] estou muito mais próximo do não-acreditar. Tecnicamente poderia me classificar como agnóstico.
Então de que forma vive a sua espiritualidade? De que forma se relaciona com a morte e com aquilo que nos transcende?
A minha espiritualidade é vivida no âmbito da auto-transcendência. Sinto-me realizado por defender valores. É isso que me agrada. Por exemplo, continuo a ser um fã de Jesus Cristo – mas do Jesus Cristo histórico, enquanto personagem histórica.
A descrição que conhecemos fala-nos, essencialmente, de um líder.
A minha espiritualidade é vivida na lógica da auto-transcendência, da capacidade de superação diante de desafios. E basicamente não consigo ver para além disso. Permite-me também encarar a realidade da morte com mais serenidade. As dúvidas existenciais prevalecem e acho que prevalecem em todas as pessoas. E o que será depois da morte? Talvez esteja a ser demasiado superficial mas infelizmente não consigo ver, hoje, a minha espiritualidade para além da imanência.
Como reagiu quando, na acusação do Ministério Público (MP), o colocam como líder do grupo (e por causa disso recebeu a sentença maior)? Essa ideia faz algum sentido?
Só eles podem explicar a razão que os levou a colocarem-me na posição de líder. Mas pelo pouco que foi dito pelo MP a ideia é que eu seria o promotor disto tudo. Também percebi que são pessoas, infelizmente, muito insuficientes do ponto de vista intelectual. A grande verdade é que não são cultos. Infelizmente. Deviam ser. Porque para estar num tribunal é suposto que as pessoas sejam cultas. Mas não são. Do ponto de vista da teoria contemporânea sobre liderança, se o Miguel tiver ideias capazes de mover o mundo, de mover a sua comunidade, de atrair pessoas, nesse sentido, efectivamente, o Miguel é um líder. É a concepção moderna de liderança. Mas eles colocaram-me na lógica do chefe. Que estava ali a manipular os outros para cometerem acções supostamente criminosas. Eu simplesmente não subscrevo essa tese, até porque nós nunca discutimos ou nomeámos alguém para chefiar o grupo. Mas devo dizer-lhe, sinceramente, que o que me inspira do ponto de vista do que é uma liderança é essa concepção norte-americana de capacidade de iniciativa, de mexer com a sociedade, de inspirar as pessoas com ideias. Se me colocassem nesse quadro, até me sentiria muito lisonjeado. É bom mover pessoas com ideias e com iniciativas.
Mas não foi bem por aí que o MP olhou para o seu papel.
Não é esse o lugar onde me colocaram. Eu não sou chefe de organização nenhuma. Além do mais, sempre me articulei no exercício de cidadania de forma puramente individual. Enquanto pessoa. É pena que no contexto angolano esta ideia não seja dominante. A minha ideia é que os professores devem investigar e produzir conhecimento, sob pena de serem enxotados da universidade. Porque as universidades são locais de produção de conhecimento – é essa a diferença entre a universidade e os restantes níveis de ensino. Mas, infelizmente, no nosso contexto não é isso que acontece. Eu sempre estive plenamente consciente do meu papel. Tenho o dever de produzir ideias e as ideias devem ser contextualizadas. O conhecimento tem de visar a resolução de problemas concretos. Por exemplo, a ditadura é um problema instalado. Deve ser ultrapassado. E se existem teorias que, na prática, estão a funcionar, então vale a pena adaptá-las ao nosso contexto. Não tenho feito nada mais do que é o meu dever, não só enquanto cidadão mas também como profissional no âmbito académico. É por isso que venho produzindo de forma constante. Desta vez, como das outras, as minhas publicações sempre me custaram caro. Desta vez foi muito mais caro do que tem sido.
Depois da detenção preventiva, da prisão domiciliária, do julgamento e da condenação, como está a relação interpessoal no seio do vosso grupo?
Depois da prisão eu, particularmente, ainda não me cruzei com ninguém. O que tenho feito, basicamente, é uma actividade como outra qualquer – mas para outros pode não ser. Albert Cossery gostava de dizer que não fazer nada também é trabalhar [risos].
Concordo. Mas vão já dizer que o direito ao ócio é uma ideia um bocado marxista.
Posso estar ali a confeccionar uma massa ou um arroz mas a pensar. Cossery gostava de dizer isto, portanto, do ponto de vista ordinário não estou a fazer nada. Nem a sair de casa, esta é a primeira saída [a entrevista foi realizada na terça-feira, 5]. Não houve ainda possibilidade. Olhando para as fotografias, que é uma visão muito parcial da realidade, quando foram soltos do [Hospital-Prisão de] São Paulo o pessoal está todo bem juntinho.
Fazia essa pergunta para chegar a outra questão: por causa da greve de fome, talvez por ser músico e isso dar-lhe maior visibilidade, ficou a ideia que a imagem do Luaty Beirão foi utilizada como se tratasse de um líder do vosso movimento. Ou, pelo menos, fora do país estaria a ser olhado dessa forma. Conversaram sobre isso durante o último ano, tinham noção desta mediatização e das escolhas que os media foram fazendo? Houve algum desconforto?
A única coisa que posso dizer é que o período em que se empolou a imagem do Luaty está relacionado com o facto de ele se encontrar numa posição delicada. Parece-me razoável. Normalíssimo. No fundo, ao destacarem o Luaty, o único que estava a perder era José Eduardo dos Santos e o seu regime. Porque conseguiu-se construir, construir não, passar a ideia e a realidade que efectivamente há aqui um grupo extremamente insensível. Que apesar da greve se prolongar por longos dias são incapazes de tomar uma decisão. Não era uma decisão forçada, era apenas cumprir o que está previsto na lei. Para mim, o anormal seria se a imprensa não tivesse incidido sobre aquela situação concreta.
Não sentiu qualquer incómodo?
Não. Aliás, preocupava-me muito que aquilo se prolongasse. Porque perderíamos uma pessoa que é útil para este país. Como é óbvio, como qualquer outra pessoa. Há pouco falei sobre a necessidade de preservarmos a dignidade da pessoa humana. Como deve calcular preocupava-me muito mais com o estado de saúde do Luaty. A atitude da imprensa só favoreceu a nossa luta. A imprensa desgastou muito o regime. Não tenho nenhuma objecção em relação a isso.
Neste momento o vosso grupo e o vosso papel na sociedade ganhou algumas raízes, mesmo apesar da condenação e das críticas que vão recebendo. Conquistaram bastante espaço mediático e entraram no jogo político. Como analisa as implicações de tudo isto, faz sentido pensar em formalizar um partido, em avançar para algo formal e devidamente organizado?
Responderia a essa questão de forma problematizante: por exemplo, vamos imaginar que alguns de nós entram em partidos políticos que já existem. Já notou que as pessoas, por mais força de vontade que tenham, por mais potencial que tenham, por mais capacidade de transformação que tenham, quando entram nas máquinas partidárias ficam completamente absorvidas? Dá a impressão que entram para um quadro de imbecilização colectiva. Talvez isso seja menos grave. O pior é que as pessoas entram depois no quadro da corrupção que existe dentro do exercício da política angolana de uma forma geral. As pessoas deixam-se comprar, manipular e entram em negociatas. E vão justificando tais práticas sob a epígrafe da realpolitik. É um tipo de justificativa que choca-me bastante.
Então o que farão no futuro, mesmo que seja uma incógnita porque o processo judicial ainda não terminou?
Até já temos o convite do tirano, caso queiramos criar um partido político.
Está a referir-se a um discurso em que o Presidente da República exorta as pessoas que pretendem chegar ao poder a formarem partidos políticos para concorrer às eleições?
Sim, o PR fez-nos um “convite” nesse sentido. E os seus discípulos foram repetindo a narrativa de forma permanente e sistemática. Ao nos convidar para criar um partido ele tem plena consciência que tem muito mais facilidade de controlar as máquinas partidárias e de conseguir manter, digamos assim, o estado de coisas. Os interesses instalados. Além do mais, entendo que há outras hipóteses: por exemplo, a criação de uma ONG, uma organização formal, uma organização da sociedade civil do estilo da AJPD (Associação Justiça, Paz e Democracia) ou outras. Com objectivos bastante claros.
É uma hipótese que pode avançar?
Em primeiro lugar teríamos dificuldades para obter o reconhecimento do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. E se, por alguma razão, fossemos reconhecidos teríamos muita dificuldade de nos articularmos. A qualquer altura poderíamos ter o destino da Mpalabanda, em Cabinda. Seguramente que não seríamos uma organização que iria brincar ao exercício da cidadania. Seria à séria e dentro do contexto que é uma ditadura. Quando é criada uma organização da sociedade civil dentro de uma ditadura, o que se deve fazer é lutar para derrotar a ditadura. E seria mesmo este o exercício que uma eventual organização proporia, do meu ponto de vista. Diante deste quadro puramente hipotético ainda há uma outra solução.
Qual?
Uma organização não formal, que não necessitaria de ser registada, onde nos pudéssemos articular e captar financiamentos para trabalhar. Mas quais seriam os bancos então que preservariam esse dinheiro? Chegaria um momento que o destino seria o mesmo da Omunga [a organização da sociedade civil, com sede no Lobito (Benguela), acusa o BFA e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos de limitarem a movimentação das suas contas bancárias]… Entendo que os angolanos não têm outro caminho que não seja tentar transformar a sociedade. Estou a fazer uma leitura puramente individual, pelo que seguramente o pessoal depois juntar-se-á para pensar nos passos seguintes. Gostaria de aproveitar a pergunta para levantar outro elemento que é importante: entrar em partidos, criar partidos ou criar organizações formais, com registo e reconhecimento das autoridade públicas, é o mesmo que legitimar a ditadura. Porque quando você diz que é uma ditadura você não pode ir sentar-se no Parlamento da ditadura. Tem de fazer o que fez [Mohammed] Mosadegh, do Irão. Se Angola é uma ditadura não vale a pena organizar um workshop sobre o estado da liberdade de expressão – aqui não há liberdade de expressão. O que há é uma licença para que as pessoas comuniquem até ao limite que o tirano e o seu grupo estabelece. Num quadro de tirania não se pode criar uma instituição que legitime a ditadura diante dos seus parceiros internos e externos.
Vocês são acusados por uma parte da sociedade de serem representantes de interesses externos em Angola. Porque se continua a fazer este tipo de acusações sempre que alguém crítica, de alguma forma, a actuação política do Presidente da República?
É uma questão bem complexa… Enquadra-se também no quadro geral de hegemonia. Estamos num regime ditatorial. Existem vários aparelhos ideológicos do Estado – entre eles está a comunicação social. Que também é usada para passar a ideia de que quem pensa de forma independente, criticando o estado de coisas, é porque está a ser mandado.
Não é “nosso”. É um traidor.
Exacto, é alguém que defende interesses estrangeiros e que gostaria de destruir o país. Porque fazem isso? Por um lado, para aquilo que mais lhes interessa: a manutenção do statu quo, do poder ad aeternum e a continuidade de todos os interesses instalados. Porque também têm plena consciência que durante muitos anos construíram uma sociedade completamente não-esclarecida. Só que algumas pessoas saíram do eixo da imbecilização colectiva. Não se deixam manipular. Porque esse discurso só cola numa sociedade como a nossa. Seguramente que se aparecerem cidadãos na Noruega, na Nova Zelândia ou na Austrália a fazer críticas às políticas do seu governo, ninguém dirá que estão a ser manipulados pela Alemanha ou pelo Canadá. Esse tipo de acusações são uma realidade em países onde há uma estagnação brutal do ponto de vista civilizacional. Ao dizerem que temos recebido dinheiro e apoio de forças externas, ao levarem-nos ao tribunal, ao sermos acusados… Em direito penal os elementos probatórios devem ser materiais. Chega-se ao ridículo de levar para tribunal, como prova de um crime, uma cópia de um livro que não foi impresso, um quadro e mais o quê? O meu passaporte? Eles falavam em dinheiro, onde está então o dinheiro? Onde? Coloco isto tudo num quadro de manipulação generalizada. Que só é possível dentro de um regime autoritário, que acredita que nem sequer é necessário um discurso mais – como direi – mais sofisticado?
O discurso contra as forças externas e seus apaniguados é bastante bem aceite por largos sectores da sociedade angolana.
Porque ainda não atingimos um grau elevado de conhecimento. É óbvio que as pessoas podem ser manipuladas perfeitamente. Isso existe. No genocídio do Ruanda, um grupo foi manipulado pela França, por exemplo, que tinha um interesse puramente geo-político e geo-estratégico na região. No tempo de Mosadegh, que lutava pela nacionalização do petróleo iraniano numa época em que o Império Britânico controlava o petróleo do Irão, parte da sociedade era manipulada pela Inglaterra e, depois, pelo envolvimento dos EUA e da CIA. Existe isso. Mas não é o nosso caso – e se alguém está a ser manipulado por forças externas, então que apresentem as provas.