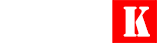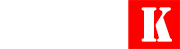Luanda - Como substituir uma lei de 1886 por outra mais retrógrada, em pleno 2017? Perguntem aos deputados e deputadas da Assembleia Nacional, aprovaram na generalidade uma lei discriminatória e hiper-conservadora, em pleno “Março-Mulher”, que vai punir as mulheres que realizarem a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) com 4 a 10 anos de prisão.
Fonte: RA
 Para agravar a situação, no dia 23 deste mês os deputados preparam-se para deixar de fora os três casos excepcionais que costumam reunir consenso social: a má formação do feto, o perigo de vida para a mulher e gravidezes resultantes de violações.
Para agravar a situação, no dia 23 deste mês os deputados preparam-se para deixar de fora os três casos excepcionais que costumam reunir consenso social: a má formação do feto, o perigo de vida para a mulher e gravidezes resultantes de violações.
Este último caso é particularmente cruel. O Estado angolano vai obrigar as mulheres que fiquem grávidas dos seus violadores a serem mães desse trauma, dessa brutalidade. Pergunto-me, qual a legitimidade do Estado para interferir dessa forma nas nossas vidas?
Se a maternidade deve ser uma escolha livre de cada mulher sobre o seu corpo, sobre a sua vida, de acordo com a sua própria consciência, o aborto também. Se o Estado coloca os interesses das mulheres em segundo plano quando se trata dos nossos corpos, então estamos diante de um Estado que intencionalmente está a reprimir as mulheres dos seus direitos e liberdades mais básicos.
Em primeiro lugar, precisamos compreender que o aborto é uma questão de saúde pública. Quando realizado em condições de risco, é uma das maiores causas de morte das mulheres nos países mais pobres, em especial em África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano 21,6 milhões de mulheres fazem abortos clandestinos.
Em Angola, de acordo com a Angop, 15 em cada 100 mulheres morre por causa de um aborto de risco.
Em segundo lugar, esta “Lei de Março” marginaliza as mulheres mais pobres. A consequência inevitável de uma lei destas é que a mortalidade das mulheres vai aumentar de forma dramática. É quase uma sentença de morte, sobretudo, para as mulheres em situação de exclusão social. Para elas, o Estado deixa apenas três caminhos: a maternidade forçada, a prisão ou o possibilidade de perder a vida num aborto clandestino.
As mulheres das classes sociais mais altas poderão viajar para outros países onde o aborto é livre até determinado número de semanas de gestação, e realizá-lo em segurança, com o devido acompanhamento médico e psicológico. Ou seja, um direito que deveria ser universal fica agora condicionado à classe social a que pertencemos. A isto chama-se “classismo”. A isto chama-se institucionalização da pobreza.
Por outro lado, é, no mínimo, ingénuo pensar que proibir o aborto vai fazer com esta práctica desapareça. A Holanda, que tem uma das leis mais progressistas, tem também uma das taxas de aborto mais baixas do mundo. Conhecer outras realidades pode nos ajudar a evitar erros.
Mas muitas vezes, é mais fácil castigar do que educar e cuidar. Esta lei revela um facilitismo frio que revolta e apavora. Um Estado realmente preocupado com a vida e com os direitos das mulheres (e da comunidade) não se limita a sancionar o aborto com pena de prisão. Existem outras políticas positivas de incentivo à maternidade voluntária, desde um acompanhamento pré-natal de qualidade, a creches e escolas públicas e condições que permitam às mulheres conciliar a vida laboral com a maternidade.
Também na prevenção de gravidezes indesejadas existem uma data de medidas que podem ser tomadas, se houver vontade política. Por exemplo, garantir que os hospitais públicos oferecem serviços de planeamento familiar às interessadas, garantir o acesso fácil e barato a métodos anti-concepcionais, incluir a educação social no programa de ensino público. O preço da pílula, por exemplo, é absolutamente proibitivo para a maior parte das mulheres angolanas. Assim sendo, é simplista, autoritário e injusto apostar numa punição legal pesada e não em políticas que cuidem da saúde reprodutiva das mulheres.
Por fim, no centro de toda esta discussão está o complexo debate científico e moral acerca da vida do feto. A partir de quantas semanas o feto deve ser considerado como “pessoa” e, portanto, devemos ter em consideração os seus interesses e direitos? Nesta parte da conversa, devemos fazer um esforço para nos afastarmos dos dogmas e das crenças religiosas que temos, pois quando falamos de leis, sabemos que elas devem ser escritas pela mão de um Estado laico que, garantindo a liberdade religiosa de cada um, não deve legislar de acordo com esta ou aquela crença.
Existe um consenso no âmbito da comunidade científica que, num cálculo prudente, até às 20 semanas de gestação o feto não tem sensações, nem dor, nem aptidões, pois nessa altura da gravidez ainda não está completamente formado o seu sistema nervoso central. Por este motivo, apoiados pelos argumentos científicos, vários países permitem o aborto livre até às 10 semanas (Portugal), 14 semanas (Espanha) ou até mesmo às 20 semanas (Holanda).
Sabemos que a vida deve ser protegida e não ignoramos que um feto é um potencial ser humano. Mas, fazendo uso do rigor que o assunto exige, há uma diferença entre um “potencial ser humano” e um “ser humano” em si mesmo. É importante compreender que, aos olhos da ciência, só a partir de determinada altura é que esse feto pode ser considerado “pessoa”. Até lá, existe outra pessoa, essa sim, cujos interesses, cuja vida deve estar em primeiro lugar: a mulher.
Compreendemos que o uso da interrupção voluntária da gravidez não deve ser banalizado, pois é um processo doloroso para a mulher, tanto a nível físico como emocional. Compreendemos a decisão das mulheres que optem por não abortar, seja por motivos éticos ou religiosos. Mas defendemos, acima de tudo, o direito à escolha de cada uma dessas cidadãs, sobre o seu corpo, sobre o seu útero, sobre o seu destino. E diante da importância dessa escolha, o Estado deve garantir que esta possa ser feita em segurança, com informação e o acompanhamento devido.
A criminalização do aborto é uma política machista, injusta e irresponsável. É urgente que se quebrem os tabus em relação a tudo o que tem a ver com a sexualidade feminina, é urgente um debate amplo e informado. É urgente que levantemos a voz para reivindicar o nosso direito à escolha, à saúde e à autonomia sobre os nossos corpos. Ninguém o fará por nós.
Se essa lei passar, é uma traição a todas as mulheres angolanas.
Uma traição imperdoável.