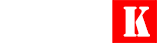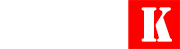Luanda - Em Outubro de 2009, à DRA organizou o IX Encontro das Comunidades Rurais, o Investigador para as questões fundiárias, Paulo Filipe fez apresentação do tema sobre à situação fundiária em Angola, a margem daquele encontro mantivemos uma conversa com senhor Paulo Filipe, que de resto é uma voz autorizada neste dominio, e porque a problemática da terra, faz parte das questões polémicas do novo texto constitucional, aquele investigador defendeu que à questão do conflito da terra em Angola passa pela necessidade de uma reforma igualitária da terra como a única forma de transformar a população camponesa numa classe economicamente viável .
*Cláudio Ramos Fortuna
Fonte: Club-k.net
 o nosso interlocutor, advoga que a reforma igualitária , acompanhada de transformação social, que é o percursor do desenvolvimento rural e da redução da pobreza em Angola.
o nosso interlocutor, advoga que a reforma igualitária , acompanhada de transformação social, que é o percursor do desenvolvimento rural e da redução da pobreza em Angola.
Quem é o cidadão Paulo Filipe?
Sou um simples cidadão angolano que se dedica inteiramente à pesquisa quantitativa. Dirijo um Laboratório de análise integrada de dados, onde se experimenta várias técnicas e ferramentas de análise quantitativa. Faço isso combinando o conhecimento que adquiri durante vários anos de formação em Agricultura e Recursos Naturais, Economia do Desenvolvimento e Estatística Aplicada. Penso que temos em Angola bons pesquisadores sociais com inclinação para a abordagem qualitativa, mas precisamos de quantificar melhor a dimensão dos problemas sociais que são publicados nos relatórios de pesquisa. Não concordo que se formulem politicas e estratégias de desenvolvimento social apenas com base em estórias das comunidades – mas estas devem ser fortemente suportadas por evidência estatística. É necessário aliar o qualitativo ao quantitativo – e os trabalhos com esta abordagem podem, sim, servir de base à tomada de decisões coerentes e informadas.
O Laboratório dedica-se ao estudo de vários temas de pesquisa, mas temos dado mais atenção à questão da segurança alimentar, qualidade de educação, trabalho infantil, acesso a agua e direito à terra. Começámos a estudar as questões relacionadas com o acesso, uso e posse da terra em 2005 na província do K. Sul com financiamento Ajuda Popular da Noruega (APN), e hoje ampliamos a nossa abrangencia geográfica para às duas províncias vizinhas: Huambo e Benguela. Trata-se de um tema vasto e complexo devido à riqueza das dinâmicas locais, mas penso que já conseguimos desenvolver uma base de dados sólida e conhecimento para partilhar com a sociedade académica e de profissionais ligados e/ou interessados na questão.
Acha que a Terra é uma questão, ou um problema a ser resolvido em Angola? Existe um conflito de terras? Serão estas as razões que o motivaram a aceitar o desafio de estudar a problemática da terra?
Não! Não tenho interesse ou motivação intelectual para documentar conflitos em curso. Interessei-me por estudar a questão da terra pelo facto desta constituir o capital físico mais importante para a sustentação do meio de vida rural. Defendo o principio de que o ACESSO à terra garante a sobrevivência da família, mas é o DIREITO à terra que dá sustentabilidade ao meio de vida. Depois do primeiro estudo em 2005 concluímos que não há um problema muito grave de acesso à terra. Mas o problema reside na ausência de direito; e quando este é sistematicamente violado torna o meio de vida inviável, comprometendo o futuro dos nossos filhos. Mas se não conseguirmos definir o tipo de futuro que queremos para os nossos filhos também não saberemos identificar o problema da terra. Temos, portanto, uma equação simples com dois elementos: acesso e direito; o primeiro põe a comida na mesa ainda que em níveis de subsistência, ao passo que o segundo permite a transformação do meio rural para melhorar a qualidade de vida da futura geração. Este é o quadro a partir do qual abordo a questão, ou a problemática, como preferir.
Conflitos de terras existem e existirão sempre. As relações com a terra são relações económicas e sociais sempre sujeitas a contradições e conflitos entre comunidades e grupos sociais. É errado ignorar o facto de que a terra é uma potencial fonte de conflito que pode rapidamente evoluir, entre uma geração e outra, para um nível de tensão social bem mais complexo de se resolver. Não existe um conflito generalizado, mas seria irónico da minha parte dizer que não há problemas. Certamente que sim. Mas o problema da terra não se caracteriza apenas pela ocorrência de conflitos comunitários. Tenho encorajado as pessoas – entre políticos, académicos, e lideres comunitários – a construírem o seu pensamento apoiando-se na seguinte base filosófica: “a terra que usamos não nos pertence, não a herdamos dos nossos pais, mas pedimo-la por empréstimo aos nossos filhos”. Frase simples, mas com significado profundo e que nos leva imediatamente a analisar o lado mais complexo da equação: o direito a terra. Que terra iremos devolver aos nosso filhos e que direitos estes transferirão para os nossos netos? Já não é tão fácil responder a esta pergunta; ninguém tem respostas prontas pelo simples facto de não termos estado a dedicar tempo suficiente aos assuntos da terra. Na corrida pelo desenvolvimento rural apressado esquecemo-nos que este não vai acontecer com desequilíbrios na balança do poder rural – algo que só se alcança promovendo o direito e a reforma. Temos sim um problema de terras – com origem na nossa história colonial e que não foi resolvido com as duas reformas feitas após a independência.
A lei de terras é das leis mais polémicas das aprovadas no país. Até os juristas têm alguma dificuldade em convencer da sua eficácia. Que tipos de conflitos nós podemos vir a ter face a este cenário?
Não sei, nem gostaria de apontar os tipos de conflitos que poderão surgir em virtude da Lei que temos; não acho que a análise deva ser feita nesta perspectiva. Não existem leis perfeitas; não é possível acomodar os interesses de todos os grupos sociais numa só Lei. Todas as leis que envolvem a regulamentação do uso, ou da gestão dos recursos naturais, são sempre conflituosas ou polémicas porque comprometem os interesses de um grupo na tentativa de salvaguardar os interesses de uma maioria. A consulta pública é um processo a partir do qual se tenta reunir o maior consenso, mas nem com isso se consegue alcançar a unanimidade absoluta. Apesar de ser polémica, eu penso que a Lei de terras marcou o início de uma nova fase de participação da sociedade civil no processo de elaboração de leis. Apesar de limitado, o processo de consulta publica permitiu a introdução de alguns elementos que não constavam do anteprojecto – dando assim maior protecção às terras comunitárias. Mais do que criticar esta Lei penso que devemos continuar a recolher dados e documentar sistematicamente os problemas à volta da situação fundiária para sustentar as propostas de revisão da Lei no futuro. Isso terá de acontecer porque o sector fundiário está em constante evolução e teremos que ter um quadro legal cada vez mais adequado aos novos desafios.
Alguns estudiosos dizem que esta Lei apesar de ter sido alvo de uma consulta pública, não foi objecto de uma discussão mais ampla por estar amarrada aos “timings ” da pressão para a sua aprovação. Concorda com este ponto de vista?
Sim, poderia ter sido feito melhor se não estivéssemos pressionados pelo tempo. Nós não tínhamos experiência na condução de consultas públicas no país, mas tínhamos referências de países com os quais temos alguma identidade, que conduziram um processo bastante participativo da base ao topo. Poderíamos ter dedicado algum tempo a aprender melhor com essas lições para conduzirmos o nosso processo, não necessariamente igual, mas melhor. Devemos ir à busca de referências não para as replicar exactamente, mas para fazer melhor. É assim que se cresce e se desenvolve.
Limitar, mas não recusar, o recurso à referências e experiências externas pode ser de alguma forma positivo – há algo de bom nisto; temos que nos dar a nós próprios a chance de errar, desde que saibamos documentar e tirar lições destes erros. Por outro lado, penso que poderíamos ter feito uma consulta mais longa e abrangente, mas não tínhamos condições de conduzir uma discussão ampla envolvendo todas os sectores da sociedade; teria sido bom ouvir os camponeses – os maiores beneficiários de uma reforma de terra rural. Contudo, devemos humildemente admitir que não tínhamos instituições locais com capacidade para gerir um processo de discussão amplo. Note que não se trata apenas de discutir o assunto debaixo de uma árvore; precisaríamos de facilitadores experientes capazes de tipificar, sistematizar, e relatar o resultado da discussão numa matriz comum.
Também não tinha sido previsto um orçamento para o efeito. Os custos dos projectos submetidos a discussão ou consulta pública, como preferir, têm que ser suportados pelo estado, o que requer uma planificação atempada. As consultas públicas para este tipo de projectos levam entre 12 a 18 meses nos países com instituições funcionais e sociedade civil activa – que ainda nao é o nosso caso. Portanto, é importante que as questões de organização, tempo e custos sejam tidas em consideração nos próximos projectos submetidos a consulta pública para que esta seja suficientemente ampla e verdadeiramente participativa.
Falou durante a sua apresentação do caso de Moçambique. Este país começou primeiro com uma política de terras, só depois é que evoluiu para uma Lei de terras. Seria este o caminho a seguir?
Exactamente! O mais lógico para países como o nosso que têm problemas históricos de terras ainda por resolver. Deveria ser este o caminho e seria benéfico, no sentido em que teríamos como balizar algumas situações de conflito; redefiniríamos as formas de acesso à terra; redefiniríamos os sistemas de uso e o âmbito do direito; e [re]estabeleceríamos novos tectos/limites de aquisição, particularmente para o regime de acesso livre (privado). Há um vácuo grande na aplicação da Lei e do regulamento precisamente por não haver uma politica de terras.
Mas há quem defende que a Lei está muito boa e que precisamos apenas de implementá-la. Qual é a sua posição?
Penso que ela está bem escrita enquanto instrumento legal. Há alguns problemas de consistência com o regulamento, mas isso não retira o mérito do documento; ela serve o seu propósito, isto é, definir as bases gerais do regime jurídico das terras, os direitos fundiários e o regime de transmissão desses direitos a terceiros. Este é o verdadeiro propósito da Lei. Até aí, estamos de acordo. Mas a Lei não resolve o problema da terra; não resolve o problema do camponês, cujos direitos são historicamente violados. É preciso restituir direitos; temos esta divida com a nossa própria história, mas a Lei não alcança esta dimensão; ela foi feita assumindo a situação actual – de desequilíbrios no acesso ao recurso terra. Por isso é que é necessário uma política e uma verdadeira reforma. Não tenhamos ilusões de fazer desenvolvimento rural sustentável na ausência de uma reforma de terras. A reforma, apoiada por uma politica de terras sólida, histórica e socialmente justa irá provocar o equilíbrio na balança do poder rural – e esta é a base para o sucesso de qualquer programa de desenvolvimento rural e de combate à pobreza. E mais, a maior parte dos conflitos de terras que se regista hoje na região Centro e Sul só acontece por falta de uma reforma sólida.
Mas há juristas que dizem que não há necessidade de haver conflitos deste género, porque a terra é do estado logo não há motivos para conflitos. Concorda com esta afirmação?
Não! Não devemos interpretar o conceito de propriedade originária do estado desta forma. Ao invés de progredirmos, este tipo de interpretação far-nos-á retroceder 35 anos na nossa história de terras e, por outro lado, conduz-nos a analisar a questão da terra de forma simplista. Note que não é o Estado que dá aproveitamento útil e efectivo à terra, mas sim as pessoas que a trabalham; as pessoas que adquirem direitos sobre ela e que desejam transferir estes direitos para terceiros. Já disse acima que este tipo de relações está sempre sujeita a conflitos. Tivemos, sim, um período de ausência de conflitos na nossa história de terras – o período da primeira reforma que começou por volta de 1976 ate finais da década de 80. Não havia conflitos, porque a gestão da terra enquadrava-se bem no sistema das cooperativas e fazendas estatais. Abandonámos este modelo e desenhamos (mal por sinal) a segunda reforma em 1990 com base nos princípios da economia de mercado. Ora, a partir da altura em que se concede o direito de propriedade a um determinado segmento da população, em que se concede o direito de posse e transmissão desses direitos a terceiros, não há como não haver conflitos entre comunidades, entre familiares, entre comunidades e fazendeiros e destes entre si. No entanto, a terra não deixa de ser propriedade originária do Estado. O mais grave é ignorar a existência dos conflitos, não fazer absolutamente nada para dirimi-los, não agir em antecipação aos conflitos; temos que estar sempre à frente do jogo – e é para isso que serve a pesquisa; e é para isso que eu trabalho.
Enquanto investigador sei que dedica muito tempo ao tratamento de dados quantitativos mas também dedica muito tempo às entrevistas com os mais velhos nas aldeias. Qual é o sentimento dos mais velhos em relação ao conflito de terras que se vive hoje em Angola?
Bem! Ainda não consegui construir um “índice de sentimento” – seria o próximo premio Nobel. Eu diria que o sentimento é misto – varia muito em função da percepção de segurança que eles têm sobre a posse da terra que usam; varia em função daquilo que é a esperança de verem a situação da terra resolvida; muitos acreditam que ainda verão restituídos aquilo a que chamam de marcações históricas; também varia em função do nível de informação a que têm acesso, particularmente informação sobre a Lei de Terras. Nas zonas onde há maior actividade de divulgação da Lei, há maior percepção de risco e vulnerabilidade, mas também maior noção das formas de resolução de conflitos á luz do direito positivo. Penso que é positivo o facto de a partir da Lei se terem criado oportunidades para discutir assuntos de terras a nível comunitário.
Portanto, eu acho que é necessário continuar-se a fazer a divulgação e educação sobre a Lei. Temos que ir mais longe no sentido de criar uma coisa que eu chamaria de “caravana de aconselhamento legal”, que seria uma espécie de um escritório móvel com uma equipe, que se deslocaria de aldeia em aldeia a fazer educação sobre o direito à terra e prestar aconselhamento legal para os diferentes tipos de conflitos que surgem. Seria uma equipe devidamente preparada, equipada com os instrumentos legais e com cópias resumidas da Lei, com cartilhas de divulgação sobre a Lei, e fazer isto por Angola fora. Acredito que se isto for feito com alguma eficiência, nós teremos, sim, uma população mais informada e educada em relação aos instrumentos legais mais importantes para a sustentação do seu meio de vida.
Fez anteriormente uma breve relação entre reforma e desenvolvimento rural. Quais e quando é que ocorreram as reformas de terras em Angola? Faço-lhe esta pergunta porque não se tem falado de reforma.
Correcto! Na literatura moderna de terras, reforma é o termo técnico para descrever as medidas que tomamos em 1976 e 1990/91 com relação à terra. São os dois grandes momentos da nossa curta história de reforma de terras. A reforma de terras de 1976 visava alcançar essencialmente dois objectivos. Primeiro, e o presidente Agostinho Neto mencionou várias vezes nos seus discursos, evitar que se criasse em Angola uma nova classe de capitalistas exploradores; isto seria alcançado com o modelo de gestão da terra que se implementou na altura, que não permitia que os camponeses tivessem a propriedade da terra que utilizavam. Neto dizia que não podíamos permitir que o camponês tivesse a propriedade da terra porque ele cresceria e rapidamente tornar-se-ia num capitalista. Quer dizer, “primeiro vai começar com um hectare, depois dois, três, quatro, depois começa a contratar da mão-de-obra e torna-se capitalista”. Não era isto que se pretendia, não eram estes os princípios da revolução. Segundo, a reforma enquadrava-se na estratégia que o governo, na altura, adoptou para recuperar os níveis de produção de 1973 – que foi o ano em que nós atingimos a maior cota de exportação de café. Chegámos a 1975 com um vácuo empresarial muito grande deixado pelos empresários agrícolas portugueses. O pensamento na altura era que este vácuo empresarial seria coberto pelo Estado a partir da produção organizada em fazendas estatais e cooperativas agrícolas. Então, implementou-se este modelo que infelizmente não resultou, tanto mais que chegámos a meados da década de 1980 com problemas graves de insegurança alimentar.
Em finais da década de 1980, confrontados com problemas sérios na nossa balança de pagamentos, um sector produtivo disfuncional devido não só à guerra mas também a um modelo de reforma da terra desajustado da nossa realidade histórica e cultural, restavam-nos poucas alternativas que não fosse embarcar num programa de saneamento económico. Abertura da economia com forte disciplina fiscal fazia perfeito sentido económico. O saneamento previa, dentre várias medidas fiscais, o redimensionamento de maior parte das unidades económicas estatais incluindo as fazendas agrícolas então nacionalizadas durante a primeira reforma. Isso dá origem a segunda reforma de terras, em 1990, apesar de que muitos não a denominarem assim. Mas houve reforma. Houve reforma, porque alteramos a relação dos factores de produção: terra, mão-de-obra, e capital. O Estado foi substituído por uma nova classe empresarial agrícola; incluímos o acesso livre nas categorias de gestão da terra (terra privada) e o camponês continuou com o seu estatuto histórico de provedor de mão-de-obra. Sou suficientemente progressista para concordar com a criação de uma classe empresarial agrícola local, mas que isso não seja feito em detrimento ou violando os direitos à terra da população que lutou por ela. Sou suficientemente “reformista” para acreditar que é possível transformar os nossos camponeses numa classe de pequenos agricultores economicamente viável – bastando para isso criar uma estrutura forte de apoio aos camponeses à semelhança do que foi feito nos países que são hoje considerados os Gigantes Asiáticos. Sou suficientemente “economicista” para crer que não havia, conceptualmente, opção técnica melhor que o redimensionamento empresarial. Contudo, cometemos o erro brutal de enquadrar as fazendas no conjunto das outras unidades de produção estatal. Os critérios de privatização de empresas como a Macambira, Textang, etc., não se aplicavam às fazendas. Estas carregavam consigo toda uma dimensão histórica, toda uma dimensão social e humana própria e, havia um valor simbólico de pertença da terra presente no espaço que circunscrevia cada uma daquelas unidades. Há-de concordar que estas unidades eram especiais, tinham a sua particularidade, e eram dignas de um tratamento mais cuidadoso. Não acredito, com base nos dados do passado e do presente, que venhamos a atingir níveis sustentáveis de segurança alimentar apostando apenas na agricultura empresarial de larga escala, mas sim tornando os camponeses numa classe economicamente viável.
Pelo que percebi, o Paulo Filipe acha necessário uma nova ordem nas relações de produção?
Claro que sim! Isso é o mesmo que dizer que é necessário uma nova reforma. As reformas podem ser “igualitárias” acompanhadas ou não de transformação social, ou “não-igualitárias” normalmente sem transformação social. Note que na primeira reforma a terra passou do colono para o Estado e para as cooperativas de produção. O sector tradicional continuou a existir mas sem qualquer expressão e não houve uma verdadeira transformação social.
Na segunda reforma as terras passam do Estado para uma pequena classe de empresários incapazes de transformar o meio rural – e vamos chamar a isso de reforma não-igualitária. Não houve transformação social. Acreditávamos na altura que era possível criar, em pouco tempo, uma classe de empresários agrícolas que pudesse dar resposta àquilo que o Estado durante a década de 1980 não conseguiu fazer por razoes bem conhecidas. Estávamos a apostar numa classe completamente descapitalizada e muitos não tinham cultura do campo. Esquecemo-nos do camponês que tinha a cultura do campo, conhecia bem as culturas que estavam na lista das principais culturas de produção na altura, e eram eles que conseguiam fazer o aproveitamento útil e efectivo da terra no tempo colonial. Não foi dada a oportunidade a esta classe de reaver as suas terras, e não nos demos permitimos a nós próprios acreditar que esta classe de camponeses poderia ser transformada numa classe economicamente viável e, ainda hoje continuamos a não pensar assim. Distribuímos insumos mas falta compromisso com a classe.
O terceiro período na nossa história de terras foi o de 2002 a 2004, que “termina” com a instituição da Lei de Terras, mas não chamo a este período de reforma porque temos apenas uma Lei; não há alteração nas relações de produção. Insisto que precisamos de reforma. Não vamos conseguir acabar com a pobreza nem transformar o meio rural sem uma reforma de terras. Acções isoladas de micro crédito podem até ser necessárias, mas não é condição suficiente para se elevar os níveis de produção e reduzir a pobreza desta classe camponesa. Temos mesmo que pensar seriamente e formular uma reforma de terras suficientemente igualitária.
Poderia terminar dando-nos a sua definição de reforma igualitária da terra que tanto defende?
Claro que sim! Mas devo dizer-lhe que compus esta definição a partir de duas escolas diferentes de pensamento. Não pretendo criar uma nova escola, mas estou à procura de uma abordagem prática e objectiva para o nosso caso. Devo começar por dizer que a reforma igualitária da terra não se refere, em circunstância alguma, à redistribuição da terra em parcelas iguais para toda a gente. Nada disso! Trata-se, sim, do processo a partir do qual se altera a forma de gestão da terra no sentido de criar maior equidade no acesso à terra e seus recursos por parte de todos os cidadãos, promovendo assim maior equilíbrio na balança do poder rural. A premissa fundamental da reforma igualitária é que ela conduza a transformação social, crescimento agrícola, e desenvolvimento económico, a partir de um programa de apoio direccionado ao camponês. As reformas devem ser concebidas e implementadas pelo Estado como um programa de desenvolvimento socio-económico e não como uma simples [re]distribuição de terra isolada ou dissociada do pensamento de desenvolvimento do pais. Este será o maior desafio dos angolanos nos próximos tempos.
Há algum aspecto que eventualmente não tenhamos colocado e que gostaria de abordar?
Não gostaria apenas e para terminar dizendo, que numa analise feita a história de terras de 34 paises de pelo menos três continentes(Africa, Ásia e America Latina), não foi dificil concluir que só os em vias de desenvolvimento que conseguiram implementar reformas radicais e suficientemente igualitárias para erradicar diferenças de acesso aos recursos no meio rural, conseguiram criar condições para um crescimento economico sustentável com uma rápida indústrialização e hoje , verificam-se alcances significativos na redução da pobreza. Nós angolanos temos a mesma pretensão, precisamos apenas de identificar e seguir o caminho certo.