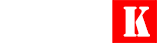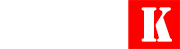Lisboa - Memória. Isaura, de 27 anos, está há quatro anos em Portugal a estudar. Não tem fotografias nem objetos do pai, mas vai sabendo como ele era através dos amigos de sempre de Savimbi
*Carolina Reis
Fonte: Expresso
 Quinze anos depois do fim da guerra civil de Angola, a quase nove mil quilómetros de distância do lugar onde nasceu, o Bié, Isaura Sakaita, de 27 anos, vai conhecendo o início da sua vida. Veio à procura do futuro, com a energia e a força de quem recomeça, e acabou por recuar no tempo. Aos dias em que era uma menina de totós e sorriso largo, igual ao do pai. Em Lisboa, a filha de Jonas Savimbi, a terceira dos quatro que ele teve com Ana Isabel Paulino, a segunda mulher com quem casou, encontra-se com a memória do pai através dos que estiveram sempre ao lado do líder histórico da UNITA.
Quinze anos depois do fim da guerra civil de Angola, a quase nove mil quilómetros de distância do lugar onde nasceu, o Bié, Isaura Sakaita, de 27 anos, vai conhecendo o início da sua vida. Veio à procura do futuro, com a energia e a força de quem recomeça, e acabou por recuar no tempo. Aos dias em que era uma menina de totós e sorriso largo, igual ao do pai. Em Lisboa, a filha de Jonas Savimbi, a terceira dos quatro que ele teve com Ana Isabel Paulino, a segunda mulher com quem casou, encontra-se com a memória do pai através dos que estiveram sempre ao lado do líder histórico da UNITA.
Antigos amigos, apoiantes e admiradores do presidente do Movimento do Galo Negro acolheram-na como se fosse um membro da família. Como se nunca se tivessem separado dela desde o dia em que a viram, “pequenita”, ao colo da mãe, nos confins da Jamba. O presente é um reencontro com o passado. Margarida Lima Mayer, ex-dirigente do CDS, Maria João Sande Lemos, fundadora do PSD, Manuel Monteiro, ex-presidente do CDS, e Maria Antónia Palla, destacada jornalista e feminista, são as tias e o tio de Isaurinha, nome pelo qual é tratada. Mostram-lhe o pai fora dos livros da escola, para lá das marcas de guerra que deixou em Angola. Foram — e são — membros do Fórum Português para a Paz e Democracia em Angola, um movimento defensor da UNITA.
Em memória de Savimbi, fazem com que Isaura sinta que Portugal é a sua casa. “A princípio, por uma questão de segurança, não comunicámos a vinda dela. Só a minha mulher e os amigos mais próximos sabem que sou padrinho dela, para proteção dela. A Margarida Mayer e a Maria João Sande Lemos têm feito de mãe, tia, avó... Ao longo do tempo, foram incansáveis na receção e na integração dela”, diz Manuel Monteiro.
É com “as tias” — como as trata — que Isaura lancha e almoça com regularidade. É a elas que recorre quando quer saber do pai. São elas, um pouco, a sua casa. “Fazemo-lo pela grande amizade que temos pelo pai e pela mãe dela também, uma mulher linda e encantadora de quem fomos muito amigas. É isso que faz este amor que temos pela Isaurinha. Ela é igual ao pai, até de feitio. É muito desenrascada e não lhe fazem o ninho atrás da orelha”, conta Maria João Sande Lemos. Ao segurar os álbuns de fotografias com as viagens a Angola, a ex-deputada do PSD recorda o que movia, durante a guerra civil, esta minoria de portugueses. “Jonas Savimbi era uma pessoa de uma enorme cultura que desejava a democracia. Queria a saída dos cubanos e eleições livres. Dizia que ia rever os lucros do petróleo e que tudo tinha de reverter a favor dos angolanos.”
Volta e meia falam desse Savimbi com Isaura. “Há muitas coisas que ela não teve tempo para saber. A princípio não queria muito falar do líder da UNITA, mas do pai. Há coisas que não se podem forçar. É uma jovem muito empenhada e com vontade em ter um futuro”, conta Margarida Lima Mayer, a madrinha.
Como se de uma filha se tratasse, e quando ela pede, veem os recortes de jornais e fotos do pai e da mãe. Levando Isaura num caminho de volta a casa. E que ainda é difícil definir. Como vê uma filha um pai que é um dos homens mais controversos da História de Angola? O Savimbi líder que dominou dois terços do território angolano mas nunca conseguiu influência nas principais zonas urbanas? O Savimbi herói que quis defender a etnia ovimbundo, natural do centro e leste de Angola, do domínio dos quimbundos, da zona de Luanda e centro norte? O Savimbi guerrilheiro? O Savimbi que recusou os resultados das eleições de 92 e recomeçou a guerra? O Savimbi homem de Estado que se sentou com o Presidente Bush a discutir o futuro de África? O Savimbi perspicaz e pragmático que negociou com os chineses muito antes de a China ser uma superpotência? O Savimbi político que assinou os acordos de paz?
“Há uma diferença entre o Savimbi militar e o Savimbi pai de família. Ele não era uma pessoa de cara trancada, 24 horas por dia, sem querer saber de ninguém. Era uma pessoa que se emocionava quando a família se juntava toda nos anos dele e no Natal”, diz Isaura.
Há quatro anos em Portugal, agora a fazer uma pós-graduação na área da Gestão, desde o fim do ensino secundário que Isaura não mora em Angola. Usa, como muitos dos mais de 20 irmãos, o nome de família do pai, já que foi assim registada. Um acaso que a faz passar mais despercebida em Portugal, mas que toda a gente reconhece em Angola. “Já tinha vindo a Portugal de férias, achei que era o meu lugar para viver. Gostava de ser ROC [revisora oficial de contas], se não aqui, em qualquer lado do mundo”, frisa.
O desejo de viver em Portugal não foi premeditado nem nasceu de um dia para o outro. É o resultado de um caminho, como aquele que se faz para casa, para chegar ao lugar onde nos sentimos tranquilos e em paz. Primeiro Isaura reconciliou-se com a guerra. Depois aceitou a reviravolta que a política provocou na sua vida. Ainda adolescente, percebeu que não valia a pena viver revoltada. Não se envergonha de ser filha de quem é, ainda que tenha de explicar, muitas vezes, que um guerrilheiro não é só um guerrilheiro. E que a guerra não tem só um lado. E que nela não há vencedores. “Todos perdem. Eu também perdi o meu pai, e ele perdeu a vida.”
Ela, filha do guerrilheiro, aquele que ficou do lado negro da História, a quem acusam de matar sem dó, jura que jamais seria capaz de entrar numa guerra, ainda que de palavras. Reage com calma à palavra ‘sanguinário’, o adjetivo que mais lhe custa ouvir sobre o pai. “Sou uma pacifista, mas o espírito de luta fica. Há situações em que as pessoas não sabem como lidar, mas quem passa por uma guerra sabe o que fazer. É algo que fica. É um espírito de sobrevivência muito grande.”
Uma vontade de sobreviver que começou a construir há 17 anos. Num dia que aos olhos dela, na altura uma criança de 10 anos, lhe pareceu igual a qualquer outro. Isaura tinha estado doente no dia marcado para visitar o pai na Jamba, bastião da UNITA e onde Jonas Savimbi instalou o seu ‘quartel-general’. Mal ficou melhor, pediu para o ver. Foi um encontro breve. Estava cheia de saudades, desde a morte da mãe que só a ele podia recorrer.
“Largou o que estava a fazer para vir ter connosco. Estivemos ao colo dele, perguntou-me se estava melhor e pediu a alguém para nos dar de comer. Não durou muito tempo, mas brincámos, e ele foi alegre como sempre. Parecia um encontro como todos os outros”, recorda Isaura. Seria a última vez que veria o pai. Jonas Savimbi morreria dois anos depois, e ela tornava-se também órfã de pai.
Entre o papel de senhor da guerra e de chefe de Estado, Jonas Savimbi tentava resistir aos avanços do MPLA. A vitória encaminhava-se no sentido do adversário, e Savimbi era já um líder caído em desgraça. Tinha sobre si um mandato de captura do Parlamento angolano, e a ONU haveria de declarar, dali a um ano, as ações da UNITA como crimes terroristas. Por esta altura, já o Presidente Jorge Sampaio tinha pedido a Manuel Monteiro, então líder do CDS, que mediasse uma alternativa. “Quando [Savimbi] se preparava para reacender o conflito, o Presidente Sampaio pede-me para ir a Angola convencê-lo que não recomeçasse as hostilidades. A ideia era que saísse do país para uma conferência, talvez em Paris, para que não ficasse com a imagem de senhor da guerra, mas obreiro da paz.” Recusou, acreditando que não conseguiria voltar a entrar no país.
O fim foi-se aproximando muito antes de 22 de fevereiro de 2002, o dia em que foi morto, durante uma emboscada em Lucusse, no Moxico.
Da última vez que viu o pai, ele já não tinha o mesmo poder. A Jamba onde Isaura, em pequena, aparecia ao lado da mãe em fotografias com os apoiantes do pai que lá se deslocavam em autênticas visitas de Estado também já não existia. E Savimbi há algum tempo que deixara de ser o líder com quem se queria aparecer em fotografias. “Houve uma época em que se davam encontrões para entrar na guest list da fotografia. Mas muitos dos seus amigos portugueses, afinal, não o eram”, afirma Manuel Monteiro.
Maria João Sande Lemos lembra-se dessa época e dos “encontrões” no aeroporto para receber Savimbi em Lisboa. “Fomos nós que ajudámos a preparar [a visita], e não imaginam o que era o aeroporto. Cavaco Silva não o queria receber e só acedeu depois de Mário Soares dizer que o recebia. Foi uma visita vitoriosa”, conta.
Estávamos no início de 1990, Isaura nascia nesse ano. Jonas Savimbi tinha embaixadas da UNITA em várias capitais mundiais, incluindo Washington, e era apoiado pelos republicanos. Segundo Herman Cohen, secretário de Estado adjunto para os Assuntos Africanos, durante a Administração de George Bush, 250 congressistas do Partido Republicano insistiam que os EUA doassem 50 a 60 milhões de dólares, por ano, à UNITA. Durante a Guerra Fria, Savimbi era o homem que podia travar mais um regime comunista no mundo.
Dois anos depois, o MPLA venceria as eleições gerais em Angola, com contestação da UNITA, mas as Nações Unidas, os EUA e o resto da comunidade internacional consideraram válidos os resultados. Savimbi retomaria o conflito, iniciado em 1975 com a descolonização e interrompido em 1991 para as eleições, através da assinatura dos Acordos de Bicesse, entrando num ponto sem retorno, que o colocaria na História como derrotado e culpado. O fim da Guerra Fria e do regime do apartheid causaram o colapso nos apoios. O conflito angolano tornava-se um dos mais longos do continente.
FIM DE UMA VIDA, COMEÇO DE OUTRA
No último dia em que sentou os filhos ao colo, talvez tivesse noção do desfecho. Para Isaura, a mais parecida com ele dos quatro, não parecia preocupado. Tinha o mesmo ar de poder, o ar de “quem fala mais alto dentro da UNITA”. Um ar que, garante, misturava com risos altos e disciplina, dentro e fora de casa. “O meu pai era muito confiante e determinado. Para quem não entendia, dificilmente havia de pensar que algo ia correr mal. Perante as outras pessoas, sempre mostrou confiança.” Para uma criança de 10 anos era o suficiente para dizer que nada iria mudar.
Isaura nunca morou na mesma casa que o pai, porém sempre sentiu que ele estava próximo. No Bié, onde viveu a maior parte da infância, Jonas Savimbi vivia na casa principal, “um palácio”. À volta ficavam as casas de outras mulheres com quem viveu e com quem teve filhos.
Ana Isabel Paulino, a mulher que fez primeira-dama e que o acompanhou em várias viagens oficiais, e os quatro filhos do casal viviam na casa mais perto. “Às vezes, passava em casa muito tarde, tinham de nos acordar. Ele dizia que não tinha tempo, só podia naquele dia, e a minha mãe acordava-nos.”
Em ‘casa’ não era o líder da UNITA, mas era respeitado com a reverência com que se tratam os patriarcas mais conservadores. “Gostava muito dos filhos, mas era bastante rígido. A UNITA tinha a política de mandar estudar jovens para o estrangeiro e deixava-os perder o primeiro ano, porque era um ano de adaptação, mas se chumbassem de novo tinham de voltar. Houve um ano em que veio um filho dele e perdeu o ano. Ele mandou-o regressar. Quando lhe perguntaram se não estaria a ser demasiado rígido, respondeu que os outros podiam perder anos, mas ‘não os meus filhos’”, conta Margarida Lima Mayer.
De uma maneira ou de outra, todos os filhos conheceram essa rigidez na pele. “Era um pai amoroso, mas também gostava muito que os filhos fizessem as coisas muito corretas e direitas com a escola. Não facilitava asneiras. Não gostava de me ver de calções muito curtos nem que usasse postiços no cabelo. Tinha muito bom humor, ria-se imenso e dava muitas gargalhadas. Mas nunca brinquei com ele”, conta Isaura.
Os primeiros anos de vida foram de privilégio. Com a guerra a decorrer ao lado, a família Savimbi vivia noutra realidade. Viviam com o perigo do conflito, mas em segurança. Num perímetro seguro, com espaço para brincar, a vida passou longe da realidade da guerra. “Sabia que havia qualquer coisa que era diferente, porque andávamos sempre com segurança. E eu percebia que o meu pai era quem mandava na UNITA.”
A infância passada no Bié era rodeada de família — onde tratava as mães dos outros irmãos —, empregados, apoiantes e militantes da UNITA. Na casa e no quartel-general do pai, os dirigentes do Movimento do Galo Negro e os apoiantes de Jonas Savimbi eram tios e tias. “Conheci a Isaurinha no Bailundo, quando lá fui com a Maria João Sande Lemos para um congresso da Open Society [uma ONG]”, recorda Margarida Lima Mayer.
Em poucos anos, a guerra deixou de ser algo que estava longe. Primeiro a segurança apertou e a mãe não a deixava estar fora de casa até tarde. “Houve um dia que eu queria ir a um espetáculo de dança rítmica e toda a gente disse que eu ia aos ensaios, mas depois não aparecia no dia. E eu prometi que não. À última hora, a minha mãe não me deixou ir.” Rapidamente, o bunker tornou-se algo familiar. “O alarme disparava e nós sabíamos que tínhamos de correr para nos escondermos.”
Nos dois últimos anos de vida do pai, as coisas mudaram muito. “Passámos a mudar de casa mais vezes. Chegavam e diziam-nos que tínhamos de mudar, e era para mudar naquele momento. Íamos buscar as nossas coisas a correr.” Um crescendo de acontecimentos que a levaram de jovem privilegiada a órfã de guerra.
Antes de perder o pai, perdeu a mãe. Ana Isabel Paulino, já então divorciada de Savimbi, que a tinha trocado pela prima, morreu. “Lembro-me só de ela estar doente.” O momento seria um marco, envolto em controvérsia, na vida de Jonas Savimbi.
O líder da UNITA tinha-a trocado por Sandra Kalufelo, prima de Ana Isabel, uma adolescente que costumava ajudar a tratar das crianças e com quem teve mais um filho. “Era muito assediado por todas as mulheres. A Sandra estava lá de marcação cerrada. Quando ele deixou a Ana Isabel, ela caiu muito”, recorda Margarida Lima Mayer.
Numa viagem a Angola, ao Bailundo, em 1997-98, o grupo português apoiante da UNITA estranha a ausência de Ana Isabel no palanque de honra. Margarida Mayer e Maria João Sande Lemos pedem para ver Ana Isabel e as crianças, e Savimbi manda-os buscar a uma terra a duas horas de distância. “Era uma pessoa que considerava uma amiga. Não se sabe de que morreu, sei que teve alguns problemas quando teve as crianças.” Fred Bridgland, jornalista e biógrafo do líder da UNITA, conta outra versão. “Isabel teve uma morte horrível. Savimbi vivia rodeado de mulheres e de concubinas. Não podemos dizer o que ia na cabeça dele, mas quando a deixou, teve medo que, se fosse apanhada, ou desertava ou contava o que sabia. Era demasiado perigoso para ele. Mandou enterrá-la viva. E ela terá pedido misericórdia.”
VIAGEM AO TERRITÓRIO INIMIGO
Depois da morte de Ana Isabel, o cerco à UNITA apertou-se. As crianças deixaram de ir à escola e andaram fugidas. Depois do último encontro com o pai, os três filhos mais novos daquele relação (a mais velha estudava fora de Angola) tentaram fugir do país. “Ele percebeu o que se estava a passar e mandou um segurança levá-los para a Zâmbia, mas ficaram presos numa ilha, ao tentar atravessar o rio, e quando o segurança veio a terra buscar comida descobriu que Savimbi tinha morrido e a guerra tinha acabado”, conta Margarida Lima Mayer. Acabava o conflito, começava a luta de Isaura pela sobrevivência. Apesar de ela não ter noção nem acreditar no que se passara. “Eu não soube logo que o meu pai tinha morrido. Uns meses mais tarde, um primo falou connosco e explicou-nos o que tinha acontecido. Nesse dia, eu ouvi mas não processei. Já me tinham dito mais vezes que ele tinha morrido. Pensei que dali a algum tempo o ia ver outra vez. Pensei que alguém nos ia ligar, como das outras vezes, a dizer que ele estava bem.”
Não aconteceu. A viagem até Luanda, território inimigo, cidade onde adoravam odiar Savimbi, foi feita de carro e em silêncio. A capital do país era um bastião do MPLA em euforia com a vitória na guerra e a morte do inimigo número um. “A princípio, as pessoas olhavam-nos com desconfiança, mas depois perceberam que éramos da UNITA mas que éramos pessoas normais. Com o tempo, conseguimos criar laços com as outras crianças na escola.”
E é nessa Luanda orgulhosa da vitória da guerra e da morte de Savimbi que Isaurinha toma noção da realidade. Ao fim de três meses teve noção de que o pai tinha mesmo morrido. Falava-se muito na rádio, porém ela achava que era só mais uma falsa notícias. “Chorava imenso. Principalmente quando vi a fotografia dele morto, na capa de um DVD que os miúdos vendiam na rua. Fiquei revoltada, como é possível divulgarem aquela fotografia, dele morto, como uma coisa boa?”
Não havia volta a dar. Nunca mais voltaria ao Bié. A brincar e a sujar-se na poeira da terra. A saltar para cima do pai quando ele estava fardado. “Estávamos acostumados a ter o pai, tínhamos sempre comunicação, qualquer coisa e ele estava ali. Foi uma incerteza, um vazio. Em Portugal acreditavam que Isaurinha tinha morrido. “Depois da morte de Savimbi, perguntei pelos pequenos, mas diziam-nos que tinham morrido”, recorda Margarida Lima Mayer. Mais tarde descobriu que não. Ela e as apoiantes de sempre de Jonas Savimbi voltaram a Luanda e reencontraram as crianças. No reencontro, levaram cópias, para cada um dos filhos, de recortes de jornais sobre o pai. E um telefone para o mais novo brincar.
Foram o ombro amigo, as figuras constantes. Uns anos depois desse reencontro em Luanda, Isaura mandou uma carta a convidar Margarida Lima Mayer para sua madrinha. “Eles eram evangélicos, mas ela quis batizar-se e convidou-me. E perguntou se o meu marido podia ser o padrinho.” A tia Margarida sugeriu-lhe Manuel Monteiro, com tantos “amigos que o pai tinha em Portugal fazia sentido que fosse alguém que o conhecesse”. Foram os dois padrinhos por procuração.
Hoje, falam muitas vezes com ela de como Angola seria diferente se o seu pai mandasse no país. Aos poucos, Isaura vai tomando consciência do país. “Se fosse vivo, as coisas eram diferentes, funcionariam com muito rigor, e o pai faria questão que fossem assim. Imagino uma Angola com recursos maiores e melhores. Adoro Angola e os angolanos. O nosso país tem capacidades para dar o melhor que pode à população.”
A universidade é paga pela UNITA e as despesas em Portugal são suportadas pela irmã mais velha, funcionária pública em Angola. O futuro caber-lhe-á a ela. Há uma parte emocional que lhe diz para voltar a Angola. Mas antes gostava que o Governo devolvesse à família o corpo do pai. “É um assunto de família. O nosso pai é nosso pai, todas as famílias querem enterrar os seus mortos, ter um sítio para visitar, para chorar.” Esse, sim, seria o reencontro derradeiro com o passado.