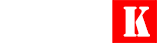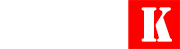Luanda - O 25 de Abril de 1974 encontrou uma sociedade angolana estratificada em dois grupos principais, a minoria branca, dominante, e a maioria negra. Apesar do que apregoava a teoria do lusotropicalismo e do multi-racialismo, a colónia de Angola era governada pelo “poder branco”, que tolerava apenas uma relativa ascensão de pessoas negras desde que o seu poder não fosse posto em causa.
*Rui Ramos
Fonte: JA
 As cidades eram constituídas, no essencial, por duas zonas diferenciadas, uma desenvolvida e urbanizada, onde se concentrava grande parte da população branca, e outra periférica, onde se acantonava a população negra. Uma extensa maioria negra silenciosa, não envolvida directamente na luta de libertação nacional, quer interna quer externa, de repente viu criadas as condições para a «tampa da panela rebentar» como reacção à histórica discriminação sistemática e ao preconceito racial.
As cidades eram constituídas, no essencial, por duas zonas diferenciadas, uma desenvolvida e urbanizada, onde se concentrava grande parte da população branca, e outra periférica, onde se acantonava a população negra. Uma extensa maioria negra silenciosa, não envolvida directamente na luta de libertação nacional, quer interna quer externa, de repente viu criadas as condições para a «tampa da panela rebentar» como reacção à histórica discriminação sistemática e ao preconceito racial.
O Exército português, nos últimos anos, passava por um processo de “africanização” dos seus efectivos de base até à patente de sargento, sendo ra-ros os oficiais africanos subalternos. Em Maio de 1974, um grupo desses militares decide tomar a Prisão de S. Paulo, no Bairro Indígena, até aí quartel-general da Polícia Política portuguesa PIDE, expulsando o seu efectivo.
A partir desse dia, em retaliação, crescem as matanças de negros nos bairros periféricos, perpetradas por agentes da PIDE ajudados por grupos de taxistas portugueses. Pedro Benje, num bar da Cidadela, em 5 Junho de 1974, disse algo que alguns colonos presentes não gostaram e foi friamente assassinado. A fricção entre as duas comunidades era evidente e era muito directa quando envolvia elementos brancos em “linhas avançadas” dos bairros periféricos de Luanda (musseques), como os taxistas e os polícias.
Entretanto, um gang é formado para lançar o terror, constituído por antigos presos comuns que saíram da cadeia à boleia dos presos políticos, o afamado grupo “Sandokan” que, muitas vezes incitado pela Polícia Política PIDE, ajudava também na desestabilização dos bairros suburbanos.
O papel da Liga Nacional Africana
A Liga Nacional Africana muda de direcção, os dirigentes nomeados antes do 25 de Abril pelas autoridades coloniais são expulsos e tomam posse Luís Soares, Sebastião Soares, Germano Gomes, Boaventura Cardoso, Pinto João, Kiosa e Mariano, e a instituição passa a ser o centro nacionalista dos angolanos, para onde convergem todas as queixas contra a violência perpetrada por algumas centenas de colonos contra os bairros africanos.
No dia 11 de Julho houve mais uma matança no Cazenga, com 5 mortos e muitos feridos e isso fez “estoirar o barril”, as posições extremaram-se, com a polícia política secreta PIDE a fazer trabalho de propaganda pró-colonial e anti-independência, acenando com a “anarquia” e ao risco de a comunidade branca ficar sem os seus bens.
Os musseques de Luanda são invadidos por grupos de pessoas brancas organizadas e armadas, com incursões que se prolongam pelo menos até 26 de Julho, e que custaram a vida a centenas de pessoas. Milhares de pessoas africanas, sobretudo mulheres com os filhos às costas e carregadas com os seus poucos pertences pessoais, iniciam então a primeira fuga massiva de Luanda, pouco conhecida até hoje, para o interior, aglomerando-se durante dias e noites seguidos na estação ferroviária do Bungo, à espera de comboio.
Neste período, os militares angolanos do Exército português, cerca de 5 mil, consideraram que deviam ter uma acção contra a desestabilização e a violência e, espontaneamente, com uma organização mínima, começam a pressionar os poderes militares coloniais portugueses a tomarem posição contra a guerra colonial e sobretudo contra os massacres nos bairros africanos de Luanda.
O funeral das vítimas do Cazenga
Na Liga Nacional Africana faziam-se os óbitos das pessoas mortas, numa envolvente emocionante e, à tarde, todo o trajecto do funeral de cinco vítimas do massacre do Cazenga foi acompanhado por mais de 30 mil pessoas, a pé e em recolhimento, entre a Liga e o Cemitério da Estrada de Catete, protegidas pelos militares angolanos que de manhã se haviam manifestado.
Uma bandeira da FNLA e outra do MPLA foram erguidas no meio da multidão. A partir daí, diz Jorge Pessoa, o povo angolano passou a contar com o seu braço armado, numa altura em que os movimentos de libertação ainda não estavam implantados em Luanda nem detinham presença armada na capital.
A população africana, no entanto, revia-se na legitimidade reconhecida dos três movimentos de libertação. Nesse funeral aconteceu uma grande manifestação de revolta contra o regime colonial português e foi exigida a independência total e imediata. “Antes da partida do séquito da Liga, um colono ainda puxou de uma pistola. Os populares dominaram-no facilmente”, recorda Jorge Pessoa.
Dias depois acontece a “Reunião do ANANGOLA”, recorda Jorge Pessoa, que esteve presente juntamente com António Cardoso. Apesar de uma ou outra voz a favor da separação de Cabinda e a favor de uma solução com os novos partidos em formação, os presentes manifestaram-se pelo reconhecimento da legitimidade dos movimentos de libertação nacional FNLA, MPLA e UNITA e decidem enviar uma delegação chefiada pelo advogado Diógenes Boavida, mais tarde ministro da Justiça, a Lisboa para dar conta dos graves incidentes e pedir providências.
Entretanto a CIA, por intermédio do embaixador Frank Carlucci, que visita Angola, tenta encontrar uma solução alternativa aos movimentos de libertação, especialmente ao MPLA, considerado comunista e a excluir do processo, fomentando também a criação de partidos de última hora para assegurar alguma ligação de Angola a Portugal, tentativa que o sucesso da revolta militar desarmada de 15 de Julho inviabilizou.
Luanda acorda paralisada
No dia 15 de Julho de 1974, segunda-feira, Luanda era uma cidade paralisada, sabia-se que algo ia acontecer. Desarmados, os soldados angolanos do Exército português decidiram agir em defesa das populações dos musseques de Luanda. Logo pela manhã partem a pé, do RI-20 (hoje EMG do Exército), milhares de militares, para a Fortaleza de S. Miguel, onde ficava o Comando-Chefe das Forças Armadas Portuguesas, seguidos de muito povo.
A tropa metropolitana portuguesa, fortemente armada, com o apoio de tanques, deixou passar os militares angolanos, mas travou a população. No início da Rua da Misericórdia (hoje 17 de Setembro), onde hoje é o Ministério da Defesa, a Polícia Militar portuguesa abriu fogo provocando 12 mortos e muitos feridos. Gritos pela “independência completa e imediata” foram lançados, vindos não só das fileiras dos militares angolanos como da população que os seguia.
A tensão era evidente, mas os militares angolanos alcançam a Fortaleza e aí uma comissão chefiada pelo alferes Américo de Carvalho fala com o general Franco Pinheiro, comandante-chefe das Forças Armadas Portuguesas. O documento lido dizia: “Exigimos o fim das operações militares e o início de patrulhamentos conjuntos nos musseques com a inclusão dos militares angolanos e a formação de um exército angolano.”
Os militares angolanos exigem a eliminação da discriminação pela Polícia e Polícia Militar portuguesas no tratamento das manifestações de africanos e europeus, a igualdade nas patrulhas nos musseques e manifestam descontentamento pela demora no envio de reforços para o Cazenga quando as populações foram atacadas.
Lidas as reivindicações, e num momento de impasse pela não-resposta formal do comandante português, que murmurou apenas “está tudo bem, podem voltar para casa”, o furriel angolano Jorge Pessoa pega no microfone e declara, em voz muito alta, que o objectivo dos militares angolanos é não só protegerem o povo, mas também o fim das operações das Forças Armadas Portuguesas e a Independência imediata, total e completa de Angola.
“Eu sou testemunha da separação social e racial nos quartéis, exijo a prisão dos reaccionários assassinos e que sejam metidos num barco e expulsos de Angola”, recorda Jorge Pessoa, que se lembra igualmente de ter proclamado que se as mortes continuassem “se mataria publicamente”. “Exigi a prisão dos agentes da PIDE e afirmei que a partir daquele momento não lutávamos mais contra os nossos irmãos.
O entusiasmo foi esfusiante, os vivas não paravam, agarraram em mim e puseram-me nos ombros e eu gritei: “Senhor general, nós não lutamos mais contra os nossos irmãos, a guerra acabou!””, recorda Jorge Pessoa. O ambiente em Luanda, nesse dia, era de crispação, três meses depois do golpe de Estado de 25 de Abril.
Spínola reconhece a autodeterminação de Angola
Dez dias depois do 15 de Julho, António de Spínola decretou que Angola tinha direito à autodeterminação e à independência. Rosa Coutinho foi enviado como alto-comissário, substituindo o governador Silvino Silvério Marques. Rosa Coutinho, mal chegou a Luanda, priorizou o “saneamento e limpeza dos reaccionários”.
Jorge Pessoa, na altura com 24 anos, nacionalista desde a década de 1960, recorda que quem fez o levantamento de 15 de Julho foram grupos autónomos de patriotas e nacionalistas que se iam organizando “para fazer qualquer coisa” contra a situação, independentemente de qualquer filiação partidária. “Foi uma grande acção unitária de angolanos.”
Os militares angolanos do Exército português contavam-se por alguns milhares e não era fácil a sua mobilização, sobretudo por existir receio da hierarquia militar, mas a situação de crispação era tão grave e as matanças de africanos estavam a tornar-se tão frequentes que quando foi necessário dar resposta ela veio inequívoca, como uma só voz, e tudo se desenrolou muito rapidamente. No dia 14 de Julho a Liga Nacional Africana reúne-se de emergência e é redigido um panfleto, por Zeca Povinho, para aconselhar a população a não responder a qualquer provocação dos colonos reaccionários.
Horácio Cruz, reconhece Jorge Pessoa, foi sem dúvida o elemento mais dinâmico deste processo, no qual sobressaíram também José Soares e Sebastião Soares, irmãos de Nelito Soares, o alferes Américo Carvalho, único oficial no grupo de militares africanos, Anapaz, Chico Zé, César Barbosa da Silva, Vítor Salvaterra, Zeca Van-Dúnem, Betinho, Zé Mário, Fernando Dias dos Santos ‘Nandó’, entre outros”
O núcleo mais consciente deste grupo de militares angolanos do Exército português foi em parte responsável pela criação das FAPLA, no dia 1 de Agosto de 1974, com realce para o papel dinamizador e organizador de Horácio Cruz. Jorge Pessoa, por sua vez, viria a ser o criador da Polícia Militar das FAPLA e, com Hermínio Escórcio e Mário Torres, organizou a chegada da primeira delegação do MPLA ao aeroporto de Belas (hoje 4 de Fevereiro) vinda do exterior, chefiada por Lúcio Lara.
Jorge Pessoa disse ao Jornal de Angola ter sido inspirado na sua acção pelo exemplo dos seus camaradas naciona- listas militantes clandestinos do grupo de acção Kimangwa do MPLA, dos anos 1960, todos presos pela PIDE. Ele foi também, a pedido expresso de Lúcio Lara, o criador do primeiro grupo de 50 batedores motorizados da Polícia Militar das FAPLA ao Presidente Agostinho Neto, após a sua chegada a Luanda em 4 de Fevereiro de 1975.
Depois do 15 de Julho de 1974, os efectivos angolanos do Exército português começaram a participar nas patrulhas militares que defendiam as populações dos bairros africanos de Luanda contra as incursões armadas de grupos de colonos extremistas e grupos de autodefesa são criados, com a sua protecção, nos bairros africanos, sobretudo no Sambizanga.
O 15 de Julho foi uma data de viragem, na qual o efectivo angolano do Exército português foi ouvido como um grupo coeso e unido pelo comando português, mobilizou a população africana que viu nele a sua segurança e conseguiu o seu intento de participar activamente nas patrulhas. “A revolta do 15 de Julho provocou, definitivamente, a impossibilidade da continuação do colonialismo.
O projecto de uma federação, do general português Spínola, tornou-se impossível a partir desse momento. Foi a primeira vez que todos os quadrantes, instituições e pessoas se uniram com o mesmo propósito, a Independência Nacional de Angola”, conclui Jorge Pessoa.