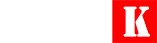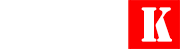Luanda - Nasceu no Congo-Brazzaville, mas tem Angola no coração, sentimento que nasceu antes de conhecer a terra do seu pai adoptivo, o nacionalista e histórico do MPLA Lúcio Lara. Jean-Michel Mabeko-Tali, a pessoa de quem se fala, tornou-se historiador do processo político angolano, um contributo académico que lhe rendeu, em 2022, o Prémio Nacional de Cultura e Artes, na categoria de Investigação, Ciências Sociais e Humanas. O historiador concedeu ao Jornal de Angola, por e-mail, a partir dos Estados Unidos da América, onde vive e trabalha, uma grande entrevista, na qual revelou que o processo político de Angola foi decisivo na escolha de se tornar historiador e lembrou o papel desempenhado pelo casal Lúcio e Ruth Lara na sua educação política e moral, tendo sublinhado que a sua independência intelectual nunca foi posta em causa por parte da família. "O processo político angolano fez-me mais inteligente no conhecimento e no entendimento do processo das independências africanas”, enfatizou o historiador Jean-Michel Mabeko-Tali, que se considera, como sublinhou na entrevista, um filho de dois países, um de nascimento e outro de adopção.
*Nhuca Júnior
Fonte: JA
 Como é de domínio público, o Dr. Jean-Michel Mabeko-Tali é filho adoptivo do nacionalista e histórico do MPLA Lúcio Lara, falecido, em 2016, aos 86 anos. Como foi crescer num ambiente de grande fervor revolucionário?
Como é de domínio público, o Dr. Jean-Michel Mabeko-Tali é filho adoptivo do nacionalista e histórico do MPLA Lúcio Lara, falecido, em 2016, aos 86 anos. Como foi crescer num ambiente de grande fervor revolucionário?
Foi decisivo na minha trajectória pessoal, existencial e mesmo na minha educação política ter passado parte da minha adolescência entre duas pessoas de grande envergadura humana e intelectual, Lúcio Lara e a nossa mãe, a Ruth Lara. Do Lúcio o grande público sabe um pouco mais por ter sido uma figura nacionalista de primeira ordem, co-fundador do MPLA e, por muitos anos, a segunda figura, de facto, do MPLA, quer como movimento e, sobretudo, como partido no poder, no tempo do Presidente Agostinho Neto. Do pai de família, no entanto, o grande público pouco sabe e tive o privilégio de anos de convivência e, sobretudo, de conversas com ele (lembro-me da minha curiosidade sobre questões políticas africanas e mundiais, nomeadamente). Da nossa mãe, Ruth, claro que o público menos sabe. Desde já porque era uma pessoa muito discreta, apesar de ser a esposa de uma figura cimeira da vida política angolana. Mas todos nós, no seio de família chegada, sabemos que parte da grandeza moral e intelectual do Lúcio não seria cabalmente entendida se não tivermos em consideração o tipo de esposa que ele tinha. Só para dar um exemplo, Lúcio e Ruth educaram-nos no sentido de nunca, mas nunca mesmo, usarmos da qualidade de membros, filhos e netos da família do Camarada Lara para a obtenção de qualquer privilégio ou de qualquer vantagem material, socioeconómica ou financeira. Pode procurar, no universo político angolano do pós-independência, quantos filhos de altos dirigentes escaparam àquela prática, que era o facto de se tirarem vantagens de vária natureza por serem filhos ou familiares desta ou daquela alta figura do Governo ou do partido-Estado. Foi, por assim dizer, uma marca da família, e tinha a marca pessoal do casal Lúcio e Ruth Lara. Pelo que posso dizer que foram anos privilegiados, do ponto de vista existencial e em termos de formação política e moral, ter vivido parte da minha adolescência nesta família que muito me deu. Mas importa sublinhar aqui que a minha independência intelectual nunca foi posta em causa por parte da família.
O tipo de ambiente em que viveu, primeiro, na República do Congo, sua terra natal, e, depois, em Angola, ajudou ou foi mesmo determinante na decisão de se tornar historiador de formação e investigador académico?
Como escreveu o Pepetela, que me conheceu miúdo no Congo, no tempo da luta armada anti-colonial, no seu prefácio ao meu livro "Guerrilhas e Lutas Sociais - O MPLA perante si próprio”, tenho tido o privilégio de ter crescido num universo de dentro e de fora do MPLA. Isto teve um indubitável impacto na minha maneira de olhar e de analisar o processo da luta armada levada a cabo pelo MPLA. Eu costumo dizer que o processo político angolano fez-me mais inteligente no conhecimento e no entendimento do processo das independências africanas. Quando o Congo-Brazzaville, meu país de origem, se tornou independente, em 1960, eu era demasiado garoto e não entendia muita coisa do que se passava, salvo que, na minha aldeia de nascimento, a minha mãe e outras senhoras dançavam e celebravam o fim do reino do homem branco, dos maus-tratos, do reino do terror colonial. Foi com a minha relação com o processo de luta de libertação em Angola e, sobretudo, já politicamente activo, como aluno no ensino secundário e no Liceu, e militante pan-africanista, que tive a possibilidade de entender o que significava a conquista da liberdade, as dificuldades de tal processo, as impaciências dos povos para uma melhor vida, as lutas pelos lugares, etc. É a isto que chamo tornar-se mais inteligente face ao nosso destino. E, em Angola, estava em jogo mais do que o destino de um só país. Aqui jogava-se o destino do continente e, em particular, o da África Austral. Pelo que, sim, o processo político de Angola foi decisivo na minha escolha da carreira de historiador.
Foi distinguido, em 2022, com o Prémio de Cultura e Artes, na categoria de Investigação, Ciências Sociais e Humanas. O que representou, para si, a distinção?
Desde já, esta distinção foi uma surpresa absoluta para mim. Nunca sonhei que, algum dia, viesse a ter essa honra. Pelo que me foi dito, na conversa que tivemos com o senhor ministro da Cultura e Turismo, aquando da audiência de boas vindas que nos concedeu, o júri que tomou a decisão o fez de forma independente, e o próprio senhor ministro disse que nada sabia sequer quem eu era. Em todo o caso, foi um momento de muita emoção receber o reconhecimento pelo meu contributo como historiador do processo político angolano, através de diversos escritos meus (ensaios, artigos, contributos em obras conjuntas, entrevistas e análises históricas via imprensa sobre a Angola política, etc. ...).
Sem pôr em causa o mérito das suas investigações, no domínio da História Política de Angola e, sobretudo, da do MPLA, o Dr. não manifestou, em momento algum, receio de que, estando radicado nos Estados Unidos, a distinção que recebeu pudesse ter motivações político-partidárias para uma eventual alienação intelectual?
A alienação só atinge quem vive na insegurança tanto ontológica quanto intelectual e ideológica. Não é, e nunca será, o meu caso. Aliás, a minha Universidade saudou esta distinção de um seu docente naquilo que é sua especialidade. Pode-se encontrar esta reacção da minha universidade online. Basta procurar o site do Center for African Studies, da Howard University, e encontrará o anúncio e os parabéns que me foram dirigidos através do jornal online deste Centro, onde se concentra o essencial dos estudos sobre o continente africano. O mundo académico americano não funciona sob este tipo de considerações subjectivas. Pelo contrário. Qualquer distinção ou prémio de um seu docente é sempre objecto de orgulho e a própria instituição faz questão de divulgar a notícia e ter em consideração o facto para o seu lugar como docente na instituição.
Optou por viver e trabalhar nos Estados Unidos da América por desejo de conquistar uma maior realização profissional e valorização intelectual ou existem outras razões por detrás da sua decisão?
Para lhe ser franco, América nem estava na minha agenda quando fui lá parar apenas por uma curta estadia, por via de uma história pessoal de namoro. Para minha surpresa, fui contactado pela Professora Linda Heywood, a exímia especialista da História de Angola da era atlântica ao século 19 (autora, entre outros trabalhos, de uma excelente biografia da Rainha Ginga) que soube, por mero acaso, que eu estava em Washington. Ela estava em via de entrar de férias sabáticas e precisava de alguém para a substituir. Ela tinha lido o meu trabalho sobre o MPLA na sua versão inicial, para além de artigos que eu tinha já publicado em revistas académicas francesas. Ela e o John Thornton, seu marido e outro exímio estudioso de Angola (autor, entre outras obras de referência, do estudo sobre Kimpa Vita) entraram em contacto comigo e vieram visitar-me na casa onde estava com a minha noiva na altura. A Professora Heywood perguntou se eu aceitaria substituí-la por um semestre... Eu disse-lhe que o meu inglês era muito elementar. Com aquele optimismo bem americano (se bem que ela seja originária do Caribe), ela não achou que isso fosse um grande obstáculo... Parecia uma brincadeira, mas eu me encontrei, num belo dia de Agosto de 2001, numa grande sala de aulas a pensar, cá para mim, por onde iria começar a dar, num inglês na altura aproximativo, aulas que fossem entendidas por aqueles estudantes... O nível de tolerância dos estudantes americanos em matéria de fraquezas no uso da sua língua por forasteiros espantou-me! Hoje rio-me e gozo comigo próprio quando penso nisso, naqueles momentos iniciais. Mas, naquelas primeiras semanas, cada dia era um momento de luta psicológica para não parecer um idiota a dar aulas numa língua que mal falava.
Foi assim que começou o seu interesse em trabalhar, em tempo integral, nos Estados Unidos da América?
Regressei, no fim de semestre, ao ISCED, em Luanda, onde já era professor associado. Um ano depois, o casal [John Thornton e Linda Heywood] mudou-se para a Universidade de Boston e a Professora Linda Heywood disse-me que a sua posição em Howard estava livre e que eu tentasse a minha chance, concorrendo para o seu preenchimento, pois o apelo à candidatura já tinha sido lançado. Foi o que fiz. Ganhei o concurso e, em 2002, fui admitido como quadro definitivo da Universidade, com o estatuto de Professor Associado com "Tenure”, ou seja, com estatuto definitivo de carreira garantido na instituição. Linda e John estão vivos e podem corroborar este episódio curioso do meu percurso académico e intelectual e que acabou por definir a minha relação com o mundo académico americano.
O que encontrou de novidade, como condições de trabalho, para a docência e a investigação, na Universidade Howard?
As excelentes condições de trabalho, de enquadramento estrutural e de pesquisa que se me ofereciam foram um factor capital na minha decisão. O resto era aguentar o ambiente de concorrência e desafios permanentes num sistema académico, cuja regra de ouro é "publish or perish” ("publique ou morre”) [é um aforismo que descreve a pressão para a publicação de trabalhos académicos para se ter sucesso na carreira académica]. Ou seja, se você, como docente, não produzir obra (livros, artigos científicos em jornais académicos, contributos em obras, prefácios, críticas de obras, etc.), será excluído da instituição em geral, no fim de três anos, e de qualquer promoção para um grau superior ou aumento salarial. Pois, cada publicação do docente (livro, artigos científicos, contribuição a obras conjuntas, etc.) prestigia a instituição e justifica o apoio à pesquisa por parte desta. De outro modo, você será visto como um peso inútil, que não merece estar no lugar que ocupa na dupla [função] docente-pesquisador. As coisas tornam-se mais seguras quando se passa a estatuto de Full Tenured Professor. Cheguei a este grau académico [professor titular], em 2007, e tenho, desde então, a responsabilidade da Cátedra da História de África.
A obra académica de que é autor, intitulada "Dissidências e poder de Estado - O MPLA perante si próprio (1962-1977)”, lançada em 2001 e já, desde 2019, com uma versão actualizada, aborda questões que ainda hoje são vistas como tabus nas hostes do MPLA. Como é que, até hoje, tem sido recebido o seu livro ao nível da direcção do partido?
Para ser objectivo, o MPLA da velha guarda, sobretudo, nunca me criou problemas directamente, como tal. Importa, de resto, sublinhar que, quando a primeira versão do livro foi lançada, em Luanda, em 2001, o senhor Lopo do Nascimento, que me conhece desde 1974-75, a partir de Brazzaville, quando por lá passou a seguir ao 25 de Abril, era secretário-geral do MPLA. O senhor Lopo do Nascimento, uma pessoa de espírito aberto, e quem o conhece sabe disso, já tinha lido os dois volumes do meu texto ainda em língua francesa (o Lopo fala francês), ainda sob a forma de tese de doutoramento. Soube, pelo meu editor, que, quando a questão se colocou, o senhor Lopo do Nascimento, na sua qualidade de secretário-geral do partido, tinha dado o seu aval para que o texto, depois de ter sido traduzido, fosse editado, visto a nossa inquietação relativamente à possibilidade de que, eu e o editor, viéssemos a ser incomodados. Eu, pessoalmente, não queria, de princípio, que o texto fosse traduzido e publicado na língua portuguesa, e isto o meu antigo editor, que está vivo, pode testemunhar. Cresci num meio ligado ao MPLA e, conhecendo a sensibilidade de muitas das questões que tratava no meu texto, receava que a minha análise fria e a minha procura de um relato objectivo de factos relacionados com a luta armada do MPLA, as dissidências e as lutas do imediato pós-independência não fossem entendidas por muita gente da cúpula do partido. O próprio velho Lara tinha lido o texto e nunca me fez qualquer censura, e, mesmo já com problemas de saúde, fez questão de assistir pessoalmente à cerimónia de lançamento desta primeira edição. A nível dessa velha guarda não houve quem me tivesse incomodado. De resto, e para lhe ser honesto, eu me tinha imposto a mim próprio uma certa censura, relativamente a alguns aspectos ou assuntos demasiado sensíveis. Houve, sim, de parte de alguns meios da nova geração, aquela que não passou pela luta armada, gente que levantou problemas, segundo me foi dito, e quase que quiseram impedir a cerimónia do lançamento do livro, em Luanda, em 2001. Mas, da cúpula cimeira do partido, não sofri nenhuma pressão e nenhuma hostilidade, aberta e directa.
Tem cultivado, até hoje, uma relação de proximidade com Lopo de Nascimento?
Acabei por cultivar uma excelente e extra-partidária relação de trabalho com o senhor Lopo do Nascimento, numa altura em que ele se encontrava já fora do Bureau Político e do Comité Central do MPLA. Do meu ponto de vista, a abertura intelectual [de Lopo do Nascimento] poderia ter feito mais para uma relação mais saudável, na altura, entre o MPLA e os intelectuais que não fossem orgânicos, ou seja, que não estivessem enquadrados na vida e nas estruturas do partido ou trabalhando para esta organização política. Digo isto porque assisti a situações em que ele, Lopo do Nascimento, era procurado e muito apreciado por muitos desses intelectuais que nada tinham a ver com o MPLA, e até de partidos da oposição...
Até onde sei, a versão mais actualizada do livro ainda não foi lançada em Angola. Por quê?
Isto tem simplesmente a ver com a política de divulgação seguida pela editora desta nova versão. Abarca questões, penso, de âmbito comercial, sobre as quais prefiro não me estender.
O que deve ser ainda estudado sobre o MPLA? Ou seja, o que falta estudar e apresentar aos seus leitores sobre o MPLA?
Como qualquer organização política com uma longa trajectória, ainda por cima com anos de luta e de responsabilidade estatal, o MPLA é um imenso campo de pesquisa, onde cada estudioso de factos históricos e políticos poderá sempre encontrar matéria para estudo e análise. O resto depende do que se procura, e com que fins e com que metodologia de abordagem, etc.
O Dr. Jean-Michel tem sido, às vezes, identificado na comunicação social, nacional e estrangeira, como historiador do MPLA. Este "rótulo” não lhe tem criado algum desconforto, tendo em conta o princípio de que um investigador não deve eticamente ter "mordaças” político-partidárias?
Parece-me que há um equívoco aqui. Que eu seja um estudioso do MPLA, como organização política, como estrutura política, com percurso, dinâmicas internas, desde os tempos da sua fundação e da luta anti-colonial até aos dias de hoje, isto é um facto. Agora "historiador oficial do MPLA”, isto nunca fui nem nunca serei, a começar pelo facto de que tal estatuto implicaria que eu fosse um intelectual politicamente afiliado ao partido, o que nunca fui.
Como descrever, em poucas palavras, "o MPLA perante si próprio”, à luz de cada uma dessas três etapas: guerra de libertação nacional, Angola de partido único e Angola multipartidária?
É como estudar a evolução de uma vida: o seu nascimento, crescimento, a fase adulta e de descida para o envelhecimento e o fim biológico, com todos os desafios que comporta cada etapa do processo existencial. Mas, aqui, não se tratou de estudar um indivíduo, mas, sim, uma junção estrutural de sonhos, de vidas, de personalidades e aspirações políticas de mais do que uma geração de angolanos que se juntaram num projecto político, com o fim de, primeiro, libertar a sua terra do colonialismo português e, depois, construir um Estado-Nação. Cada fase desse processo é um romance complexo.
Como então caracterizar e descrever cada fase por que passou, até hoje, o MPLA?
Vamos começar por analisar a fase de nascimento do MPLA movimento de libertação: nascimento controverso, com persistentes debates acerca das datas exactas, dos protagonistas, ao que se deve juntar as lutas e o confronto de personalidades logo nessa fase inicial... Quanto à luta de libertação propriamente dita, esta se desenrolou logo num ambiente de confrontos de ideologias e visões diferentes entre os primeiros líderes, entre incertezas iniciais e lutas, para se arrancar um reconhecimento continental (pela então OUA) e internacional, e os desafios da organização militar face a um adversário eficientemente estruturado e que tinha o apoio da NATO como um todo… Mas aqui, também, as questões internas acabavam, frequentemente, por tornar a luta mais complexa, cheia de incertezas e de conflitos internos destrutivos, cuja maior expressão foi o ciclo repetitivo de dissidências que estudo largamente na minha obra "Guerrilhas e Lutas Sociais – O MPLA perante si próprio, 1960-1977”, cuja última e largamente revista edição data de 2019, publicada em Lisboa.
A aproximação do MPLA, enquanto movimento de libertação nacional, à União Soviética terá contribuído, ou sido decisivo, para o que veio a seguir à proclamação da independência - uma Angola de partido único?
O MPLA assume o poder, a partir de 11 de Novembro de 1975, em prejuízo de dois outros movimentos de libertação e de um processo que era suposto seguir as resoluções dos Acordos de Alvor de Janeiro de 1975... Isto reavivou uma guerra que não era apenas "civil”, e que, na realidade, tinha iniciado ainda no tempo da luta anti-colonial. Ao escolher o caminho de partido único (o que era, em todo o caso, também a aspiração tanto da FNLA quanto da UNITA, como mostro no meu livro), o MPLA tinha entrado no ciclo infernal inerente a este tipo de escolha política. Pois, por lógica, todo o partido único está condenado a viver da repressão de tudo quanto é ou parece ser diferente do pensamento único. Trata-se de um sistema paranóico por essência e, portanto, que chumba tudo que queira escapar ao catecismo do discurso do vencedor, transformado em discurso de consenso nacional. Geralmente, e se tivermos em consideração outras experiências históricas de partido único, mormente de reinado prolongado, esta é a fase em que começam a criar-se, dentro do próprio partido único, os germes da sua destruição, a não ser que a elite que o dirige tenha a lucidez e a coragem de proceder a reformas internas radicais para o salvar. Mas, ao mesmo tempo, tais reformas internas só podem surtir efeito salvador para o próprio partido se elas forem parte de uma mudança política global, mais extensiva e abrangente, com a abertura do país a uma pluralidade sociopolítica. Acrescento aqui que prefiro o termo pluralidade ao termo "democracia”, pois este conceito tem sido por demais prostituído face a práticas contraditórias e cínicas do Ocidente global, que passa a vida a exigir a dita democracia aos países do Sul global, enquanto organiza, ao mesmo tempo, golpes e guerras civis mesmo onde haja esforço de abertura política, quando achar que tal abertura não corresponde aos seus interesses geopolíticos e económicos. Em todo o caso, essas reformas para nada servirão se não forem seguidas e sustentadas por reformas económicas consequentes para o país como um todo, e que poderão verter a seu crédito. De outro modo, o partido corre o risco de estar em permanente estado de fugas para frente... Posso, portanto, dizer que o MPLA tem estado e continua perante si próprio face ao seu destino, aos seus desafios internos e ao seu futuro, e não poderá, como nos tempos da Guerra Fria, culpar outrem por todos os seus problemas internos e de governação.
A Associação Tchiweka de Documentação (ATD), de que é patrono Lúcio Lara, tem sido a principal fonte bibliográfica para a investigação que desenvolve em torno da História Política de Angola?
Certamente que não. Mas ela tem a vantagem de conter um riquíssimo acervo para o estudo da história do nacionalismo e das lutas de libertação nas antigas colónias portuguesas em África, e não só...
Se não tivesse havido, em Angola, recurso à luta armada, a partir de 1961, Portugal colonial teria sido derrotada apenas no plano diplomático?
O império colonial português durou mais tempo, depois da onda de descolonizações dos anos 1950 e 1960, por causa das dinâmicas da Guerra Fria; mas estava condenado a não resistir por muito mais tempo. Agora, a forma de descolonização não teria, certamente, sido a mesma se não houvesse a pressão da luta armada. Além de que havia riscos, de resto reais, de tentativa por parte do núcleo duro dos colonos em seguir o modelo iniciado, em 1965, pela comunidade branca da Rodésia do Sul (actual Zimbabwe) sob a liderança de Ian Smith. Essa tentativa manifestou-se, de resto, em Moçambique, logo a seguir ao 25 de Abril de 1974. Uma utopia extemporânea, pois a guerrilha da FRELIMO já estava às portas de Maputo. Mas houve, naquele momento, riscos de uma guerra civil com bases raciais evidentes... Sem a pressão da luta armada, Portugal talvez tivesse alguma possibilidade de uma saída de tipo neo-colonial, como tentou a França, em 1958, embora, no caso português, houvesse menos chance de sucesso do que no caso francês (que também capotou por razões várias, que vão das repercussões do "não” de Sekou Touré, ao projecto proposto por De Gaulle, à pressão da guerra anti-colonial na Argélia, entre outros factores históricos), devido à debilidade do poder metropolitano luso. Mas o sistema colonial português estava condenado a não durar mais tempo. A própria dinâmica interna portuguesa tinha condenado o Estado Novo a desmoronar-se. O cansaço das guerras coloniais pela própria tropa portuguesa já por si constituía um factor de podridão interna que acabaria por desembocar num colapso do Estado Novo. A questão que subsiste é a da forma como ele teria acabado se não houvesse luta armada anti-colonial e, portanto, o engajamento da tropa portuguesa num campo tão vasto como este que reunia as colónias africanas. A resposta genérica que posso dar encontra-se expressa, embora de forma variada, nas experiências de outros processos de descolonização não-armada noutras partes do continente. E, no caso angolano, por exemplo, as profundas divisões identitárias múltiplas (étnico-linguísticas, somáticas, regionais, etc.) teriam sido fontes de uma independência de tipo Congo-Kinshasa, inclusive com riscos de partição territorial... Lembre-se que houve veleidades separatistas no Sul de Angola, a seguir ao 25 de Abril de 1974 (alimentadas pela África do Sul, na altura ocupando a Namíbia), e nas Lundas, sem falar do bem conhecido caso Cabinda.
A luta armada para a auto-determinação das ex-colónias portuguesas começou em Angola, no início de 1961. Há uma explicação histórica para sustentar este facto?
A explicação tem duas vertentes, na minha opinião. Por um lado, havia as condições socioeconómicas locais, que faziam de Angola verdadeiramente a Jóia da Coroa do império colonial português, depois da perda do Brasil, em 1822, e, portanto, lugar de maior expressão da economia colonial, com o que isto implicava em termos de consequências societais, tanto para os colonizados como para os colonizadores. Importa, de resto, lembrar o lugar económico central de Angola ou de regiões que viriam a fazer parte dessa criação colonial, que é o território nacional angolano, durante os séculos do sistema atlântico, e as mudanças que se introduziam após o longo e muito lento processo de abolicionismo no império colonial luso. Isto acabou por determinar o lugar central de Angola no processo económico pela sobrevivência e a reorganização colonial de um império outrora imenso, mas que acabava de perder a mais importante das suas possessões com a independência do Brasil. Isto teria consequências de longo alcance no século seguinte. A emergência de novas forças e actores económicos, inclusive de actores africanos, dentro desse sistema de exploração colonial, desde o século 19, expressou-se logo a seguir ao fim do sistema atlântico, com a mudança para o capitalismo industrial, com as duas fases da Revolução Industrial, e o início da implementação de um sistema colonial subsequente dessas mudanças. Um processo que viria a ter o surgimento, em muitos lugares, de uma elite africana ou assimilada, que lançou, desde muito cedo, movimentos associativos que teriam seguimentos sob formas diversas, mas que acabariam abrindo caminho para a posterior afirmação nacionalista, com uma envergadura maior do que nas outras colónias. Digamos que o lugar central de Angola, na exploração económica colonial portuguesa, muito cedo abriu caminhos para uma maior e mais radical expressão de sentimentos anti-coloniais.
A história oficial que prevalece, até hoje, é de que, em Angola, a luta armada pela independência teve início a 4 de Fevereiro de 1961. Contudo, a FNLA, um dos três movimentos de libertação nacional, e Portugal consideram o 15 de Março de 1961 como data do início da guerra anti-colonial, devido, creio eu, à magnitude do massacre de populações civis, ocorrido naquele dia em zonas rurais do Norte de Angola. Como interpretar o início da luta armada, a partir das duas narrativas?
Centralizar a história do início da luta armada a um só evento seria inexacto, pela simples razão de que a explosão de 1961, pelo seu carácter descentralizado, era a expressão genuína de um processo, cuja maturação vinha de longe, e sobre o qual não havia sequer uma unidade nacionalista sob uma única bandeira. De forma que, cada um desses momentos históricos (a revolta da Baixa de Cassanje, em Janeiro, seguida pelo 4 de Fevereiro, em Luanda, e pelo 15 de Março de 1961, no Norte de Angola) constitui parte historicamente legítima de um conjunto compósito, organicamente desunido, mas movido pelas mesmas aspirações anti-coloniais radicais. Isto deve ser tido em consideração na narrativa sobre o início da luta armada. Note-se que a reivindicação da paternidade do 4 de Fevereiro de 1961, per si, continua, desde já, objecto de controvérsias. A objectividade histórica requer que esta façanha (dadas as condições quase que suicidas em que fora levada a cabo) seja atribuída a uma organização fluida à volta de uma figura eclesiástica, que ficou muito tempo quase meio apagada nas narrativas oficiais: o Cónego Manuel das Neves. Recordo que o próprio Cónego Manuel das Neves não estava de acordo que se iniciasse o ataque naquela data, e há documentos mostrando a sua irritação por os seus companheiros da organização terem precipitado uma sublevação que ele pretendia lançar numa outra altura e em melhores condições e possibilidades de eficiência e sucesso. A sua preocupação baseava-se em considerações geopolíticas regionais, nomeadamente a retaguarda congolesa (RDC), à qual os nacionalistas deveriam apoiar-se e, além disso, coordenar a sua acção armada com os angolanos organizados naquele país vizinho... Portanto, o debate sobre quem começou o quê parece-me inútil e estéril, embora eu entenda (e mostro isto no meu livro) que se trata de um debate puramente de lutas hegemónicas e de reivindicações legitimistas. Uma luta de posicionamento hegemónica, como diria Gramsci.
O 4 de Janeiro de 1961 não deveria ser dissociado do início da luta de libertação nacional, o que, para mim, é diferente de luta armada. Se este pressuposto encontrar consenso no futuro, acredita que o 4 de Fevereiro pode vir a deixar de ter o estatuto que tem na lista de feriados nacionais?
Há riscos de uma separação artificial com tal ponto de vista. Uma luta armada não se reduz simplesmente ao uso de armas. É um processo que abarca fases teóricas de elaboração de um ideário e das possíveis vias para a sua concretização; uma fase de preparação diplomática (não há luta armada sem bases de apoio, retaguardas logísticas, etc.) e protagonismos variados e escalonados. Privilegiar um aspecto em detrimento de outros pode levar a uma visão parcial e parcelar do processo nacionalista armado. A consequência seria, por exemplo, considerar que os nacionalistas que passaram anos nas cadeias coloniais não deveriam ser considerados como parte da luta de libertação anti-colonial apenas por não terem estado na guerrilha. A imposição da primazia da luta armada em 1974-75 nos Acordos de Alvor, pelos três movimentos armados (FNLA, MPLA e UNITA), contra outras sensibilidades anti-coloniais foi apenas o início do processo de exclusão global, pois, logo a seguir, os três movimentos armados se excluíram mutuamente e prevaleceu apenas um dos três, com a justificativa legitimista construída sobre a ideia de que os outros na realidade não fizeram nenhuma luta armada "de verdade”... Afora estas considerações, importa lembrar que o 4 de Janeiro de 1961 não surgiu do nada. Houve preparativos, e nem todos os que fizeram esses preparativos participaram na luta armada quando ela começou. Penso aqui no Cónego Manuel das Neves, que juntou as famosas catanas, mas não participou, por razões factuais, na acção armada que ele tinha planeado com os seus companheiros... Houve, sim, e isto se sabe hoje, implicações de redes nacionalistas ligadas a correntes que justamente estavam a preparar a luta armada e que viria a ter lugar pouco tempo depois. Muitos dos membros dessas redes clandestinas foram presos antes da explosão generalizada de 1961. Pelo que devemos sempre ter uma visão dinâmica e global do processo que desembocou na luta armada.
Não acha que o 4 de Janeiro de 1961 deveria ser mesmo considerado um marco principal, até para o despertar da própria consciência política, que dá, então, origem a uma forma de luta organizada?
É um marco fundamental, como acabo de dizer, e parte do testar das águas que iria desembocar na explosão global que veio logo a seguir, embora de forma dispersa.
O que é que faltou nos Acordos de Alvor, para que pudesse prevenir uma derrapagem do processo de descolonização de Angola, como se veio a verificar?
Como mostro no meu livro sobre o MPLA, os Acordos de Alvor de 1975 estavam, desde o início, votados a não surtir efeito consensual consequente por duas razões: foram única e exclusivamente assinados, pela parte angolana, pelos movimentos armados, em total exclusão de tudo que não tivesse esta qualificação. Por outro lado, cada um dos três movimentos armados vinha com uma agenda construída com base na exclusão absoluta dos dois outros na ocupação do espaço político do futuro Estado nacional angolano. Nenhum dos antigos movimentos de libertação estava disposto a partilhar o poder, mesmo a UNITA que, por razões tácticas, devido à sua fraqueza militar na altura, deu a impressão de ser mais conciliatória. Era a época de ouro de regimes de partido único em África, e os três movimentos armados sonhavam com este mesmo tipo de regime. O que veio depois é sabido de todos. Pelo que o acordo de Alvor não passou de um momento de trégua, uma espécie de teatro diplomático, antes do relançar de uma guerra civil (nutrida por factores internacionais ligados à Guerra Fria) que, na realidade, se iniciou desde o tempo da luta armada anti-colonial.
Quem o lê, sobretudo, no que diz respeito à História do MPLA, em particular, e de Angola, em geral, fica, provavelmente, com a impressão de que a FNLA e a UNITA apenas exerceram um papel secundário no processo de luta de libertação nacional. Isto é apenas uma impressão minha ou, do ponto de vista das suas investigações, o MPLA assume um certo papel de destaque em relação aos dois movimentos congéneres?
Responder por "sim” ou por "não” a esta pergunta não traria nada de substancial para o entendimento do complexo processo da luta armada anti-colonial em Angola e do papel de cada um dos três antigos movimentos armados, dada a carga de subjectividade que tais respostas podem abarcar.
O livro "Angola - O Apertado Caminho da Dignidade”, de autoria de André Franco de Sousa, que dizia ser um dos fundadores do MPLA, é, a meu ver, uma das obras muito interessantes e das mais realistas sobre Angola, se comparado com aquilo que se pode encontrar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Se já o leu, o que achou do livro? Além disso, notou alguma imprecisão histórica?
Li o livro logo que foi publicado, enquanto preparava a minha candidatura ao doutoramento. O conteúdo desse livro fez, portanto, objecto da fase de elaboração metodológica de uma crítica bibliográfica na preparação do meu Diploma de Estudos Aprofundados (DEA). Mesmo hoje, eu não retiraria nada de crítico que disse na altura. Ou seja, que há muita confusão em muitas das afirmações que faz o autor quanto ao processo nacionalista e ao seu próprio papel, nomeadamente no que diz respeito ao lugar por ele reclamado na dita fundação do MPLA, em 1956... Não houve nada que me convencesse em tudo aquilo que ele avançou nesse sentido. Dito isto, todo o trabalho de foro memorial é sempre de grande interesse para o historiador, pelo que o livro de André Franco de Sousa tem a sua quota-parte de valor como testemunha pessoal do seu autor. O seu autor traz o seu tijolo na reconstituição de uma época que ele viveu, e cabe ao historiador saber explorar, da melhor maneira, esse seu contributo. Pois que, é parte do trabalho do historiador saber separar, pelo método crítico, o trigo do joio...
Não está suficientemente claro, nos livros que já li, se houve alguma disputa entre Lúcio Lara e Nito Alves para a assumpção do segundo lugar na hierarquia do MPLA. Caso tenha havido alguma controvérsia neste sentido entre ambos, qual foi o papel desempenhado por Lúcio Lara, no quadro dos acontecimentos que se seguiram ao 27 de Maio? Ou seja, a sua influência terá sido determinante, ou não, para a repercussão que se teve a seguir?
Volto a discutir esta questão no meu novo livro a ser publicado, em breve, em Lisboa.
Como avalia a decisão do Presidente João Lourenço de colocar na pauta da discussão política o 27 de Maio e a forma como o "dossier” está a ser tratado?
Prefiro não responder a esta pergunta.
Mais de 50 anos depois da África se ter libertado do colonialismo, surge um grupo, ainda restrito de países, a reivindicar compensações económicas pelos prejuízos sofridos durante a exploração colonial. Há algum argumento válido para a compreensão do atraso do pedido de reivindicação desses países e por quê só agora?
Reclamar reparações pelos milhões de africanos deportados séculos a fio, tanto pelo mundo árabe como pelo mundo ocidental, é legítimo. Agora, cabe encontrar-se o quadro sobre o qual tal processo pode e deve ter lugar. Recordo que levou décadas, depois da sua independência (1990), para que a República da Namíbia conseguisse que a Alemanha, antiga potência colonial do então Sudoeste Africano, aceitasse considerar pagar reparações por aquilo que foi, indubitavelmente, o primeiro genocídio do século 20, nomeadamente o massacre, entre 1904 e 1908, de mais de 80 por cento dos povos namibianos Herero e Nama pela então potência colonizadora alemã daquele país africano. Depois de muitas tergiversações, por razões falaciosas, mas, na realidade, por motivos claramente de natureza racista, (pois quando se tratou de dar reparações pelos horrores cometidos pelos nazis contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, não houve tais tergiversações), a Alemanha acabou por aceitar o princípio de reparações aos namibianos. Portanto, há uma dívida de sangue que o mundo ocidental deve aos povos antigamente escravizados e colonizados de todos os continentes.
Não é uma reivindicação que perde força jurídica devido ao atraso com que ela é feita?
Que eu saiba, e em termos de Direito Internacional, todos os crimes qualificados como crimes contra a humanidade são imprescritíveis.
Não se afigura, desde já, uma batalha perdida, já que, por exemplo, por parte da Alemanha, Bélgica, Itália e Reino Unido, surgem sinais de relutância em assumir responsabilidades em torno da herança colonial?
Tudo depende das capacidades e habilidades diplomáticas e, sobretudo, das convicções patrióticas de cada país. Um país africano com recursos naturais abundantes e estratégicos, e que se sinta seguro de não se deixar intimidar, tem em mão um belíssimo instrumento de chantagem, se quiser fazer a antiga potência colonial ou qualquer outra ajoelhar-se e pedir perdão pelas atrocidades cometidas contra o seu povo no passado. A Argélia fez isto já no tempo de Houari Boumedienne face à França, e mesmo recentemente. O nosso problema, como países africanos, é, muitas vezes, o complexo de inferioridade que caracteriza as nossas classes dirigentes quando lidam com o Ocidente.
É possível que Angola um dia siga este caminho, reivindicando diante de Portugal uma compensação económica pelos abusos coloniais de todo o tipo?
Porque não?
Não acha curioso o facto de não haver, até hoje, em sentido contrário, uma iniciativa de apresentação pública de pedidos de desculpas, por parte dos governos africanos, aos descendentes das pessoas escravizadas, algo que poderia até ser feito pela União Africana, já que esta organização criou, há 20 anos, a sexta região do continente, representada pelos afro-descendentes na diáspora?
Isto não teria sentido nenhum! Isto seria escrever a história ao inverso! Por que motivo o descendente do escravo e do colonizado iria pedir perdão por algo que vitimou os seus próprios antepassados?
Será que, se não tivesse havido tráfico de escravos transatlântico e a colonização ocidental, teria sido possível haver uma "teoria”, sem respaldo científico, de que existe uma raça humana superior?
Esta pergunta surpreende-me, na verdade! A história da humanidade começou aqui, neste mesmo continente africano. Disto a ciência tem mais do que provas. Começaram em África as primeiras bases do desenvolvimento técnico e mesmo das matemáticas (veja o caso do Osso do Ishango, que data de vinte e três mil anos antes da nossa era) e da geometria (o Vale do Nilo e a construção das pirâmides são uma extraordinária prova do domínio da geometria e leis físicas pelos sábios africanos do Vale do Nilo). Nesse Vale do Nilo nasceu a Filosofia! Tive o privilégio de visitar, em 2015, parte do Vale do Nilo, nomeadamente no que era parte da antiga civilização núbia, hoje Sudão, como membro do Comité Científico Internacional da UNESCO pelo Uso Pedagógico da História Geral de África. Tanto as pirâmides dessa parte do Vale do Nilo, como os túmulos de antigas soberanas que visitámos, têm, nas suas paredes, provas de brilhantes civilizações de há 5 a 6 mil anos antes da nossa era, numa altura em que nenhum dos países ocidentais ainda tinha emergido. Essas pinturas mostram gentes com todas as suas feições físicas núbias que podemos ainda ver hoje no Sudão. O carácter monumental de cada túmulo e as pinturas rupestres que contam o dia-a-dia sociopolítico e económico da época, por exemplo, mostram o quanto essa gente tinha uma ideia de grandeza de si mesmos! Dessa grandeza iriam sair muitos contributos à evolução tanto material como espiritual e científica da humanidade, portanto, do próprio mundo ocidental que, desde a sua expansão e dominação colonial de partes inteiras do mundo (da África à Ásia e das Américas) a partir do século 15, tratou de reescrever a história em seu favor, numa imposição de um universalismo eurocêntrico que alterou a narrativa sobre a evolução da humanidade ao fazer de si próprio (o Ocidente global) o centro do universo e de tudo quanto sejam ideias inovadoras e civilizacionais. O que a Filosofia da antiguidade grega e, portanto, ocidental, tal como o Cristianismo e os textos bíblicos, devem à civilização africana do Vale Nilo é imenso. Gosto e respeito os filósofos da antiguidade grega. Sabe por quê?
Por que razão?
Porque eles confessavam, longe de qualquer complexo de superioridade, que foi no Vale do Nilo, lugar das grandes civilizações africanas, que eles foram aprender a Filosofia... Dois mil e quinhentos anos antes do surgimento do primeiro tratado de Filosofia na Grécia antiga, já existiam escolas de Filosofia no Vale do Nilo, no Egipto faraónico, numa altura em que nem existia ainda um país chamado Grécia. Existe de tudo de mais sério e não eurocêntrico já publicado sobre este assunto, e não apenas por cientistas africanos. Tumbuktu, por exemplo, é hoje uma pequena vila do Mali perdida na margem do Sahara. Mas, nesse lugar, se notabilizou no século 14 a Universidade de Sankoré, uma das primeiras universidades do mundo que data, na realidade, do século 10 (ano 989), embora só tenha adquirido a estrutura oficial e definitiva de Universidade no século 14, sob o reino do grande imperador Mansa Musa. Lembro que a mais antiga Universidade do mundo também foi fundada em África, nomeadamente a de Al-Quarwiyyin, na cidade de Fez, no Marrocos. Foi fundada por uma mulher, diga-se de passagem, em 895, portanto, no século 9 da nossa era, embora haja quem argumenta que, em 600 antes da nossa era, a Índia já tinha uma instituição de carácter universitária, em Naland. Na Universidade de Sankoré, no império do Mali, estudava-se matemática, astronomia, botânica, higiene pública, direito, enfim, todos os domínios do saber da época. Aí convergiam estudiosos de outras partes do mundo à volta do Mar Mediterrânico, etc., quando ainda não existiam universidades na maior parte da Europa.
A História referente ao apogeu de civilizações africanas não está apagada por estar conservada por várias fontes arquivísticas. Não é verdade?
Felizmente, muitos manuscritos daquela época ainda existem hoje e que permitem ver a expressão do génio africano em todos os domínios do saber possível da época. A destruição desse grande Estado africano e dos que se sucederam por várias invasões e a colonização europeia deixaram a impressão de que nada teria existido antes da chegada dos europeus. Absurdo! Nenhuma civilização se fez sozinha, sem copiar ou emprestar aquilo que foi feito, criado e inventado por outras civilizações. E isto vale tanto para África como para outro qualquer continente. Quantas invenções do mundo asiático ou africano, por exemplo, a Europa, se não roubou, pelo menos, adoptou e acabou proclamando como sendo suas, quando hoje sabemos que vieram de outros povos e continentes? O mal [do] africano foi não ter desenvolvido o processo económico que desse lugar às classes sociais que dariam uma reviravolta ao mundo ocidental. Resultaria daí a expansão europeia, com as consequências que ainda vivemos hoje e a subsequente imposição de um discurso histórico e de um universalismo eurocêntricos. Portanto, os africanos devem perder a ideia de que, sem a Europa, eles não poderiam seguir o seu próprio caminho civilizacional e de desenvolvimento em todos os sentidos. Tal visão por parte de um africano equivale a uma espécie de auto-racismo, passe a expressão, a um auto-desprezo e uma clara expressão de complexo de inferioridade face ao "outro”.
Duas civilizações, a islâmica e a ocidental, impuseram à força os seus hábitos e costumes culturais, incluindo religiosos, subjugando povos de diferentes continentes. Como seria o continente africano, em particular, se não tivesse sido subjugado pelas duas civilizações?
Considere a resposta precedente para também esta pergunta.
Não acha ter sido um erro a manutenção dos territórios, em África, como foram traçados na Conferência de Berlim?
Eu colocaria a questão em termos de incapacidade em encontrar uma saída cabal ao problema das fronteiras no momento da discussão sobre o assunto nas vésperas das independências na década 1950-1960. Porque a questão de se saber se se deveria ou não rever as fronteiras que resultaram tanto da conferência de Berlim de 1884-1885 quanto de tratados posteriores, entre potências coloniais, foi debatida no momento da criação da OUA, em 1963. Importa lembrar que esta criação não foi feita sobre uma base consensual em todos os capítulos, mas como quadro possível de entendimento entre os Chefes de Estado da altura. Pelo que a questão das fronteiras coloniais e do seu destino ficou pendente da questão da criação do Estado federal africano ou dos Estados Unidos de África, o velho sonho de Marcus Garvey, que Kwame Nkrumah, Sekou Touré e outros tentaram a todo o custo levar a cabo...
Como avalia a qualidade da nova geração de políticos africanos?
Seria demasiado fastidioso responder a esta pergunta, porquanto abarcaria longas considerações, tanto de natureza sociológica, antropológica como da geopolítica nacional, continental e mundial. Apenas posso adiantar que cada geração se define em função dos contextos sociopolíticos e históricos nacionais, internacionais relativamente à sua natureza, à atitude e à qualidade das respostas que dá face aos desafios do momento, e o impacto que isto tem na vida económica e sociopolítica de cada país. Por exemplo, a geração de Agostinho Neto, Lúcio Lara, Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, etc., no caso angolano, teve a coragem de abrir caminhos para a conquista da independência em meio a perigos e riscos diários que tornavam tanto as suas vidas pessoais como os seus sonhos de liberdade cheios de incertezas e de riscos. Alguns pagaram com as suas vidas, outros com a sua liberdade. Mas eles eram movidos pela convicção firme do triunfo da causa da liberdade e da independência do seu país um dia, mesmo que fosse com outras e novas gerações que aceitassem continuar a luta. Ou seja, essa geração era movida por um ideal colectivo partilhado e assumido até às últimas consequências, e que ultrapassava suas individualidades. Qual é o ideal que move a nova geração de políticos africanos hoje? O que é que os motiva mais, face ao destino dos seus países e do nosso continente como um todo? Estas me parecem ser as perguntas prévias a qualquer definição cabal da qualidade da nova geração de políticos africanos neste início do século 21.